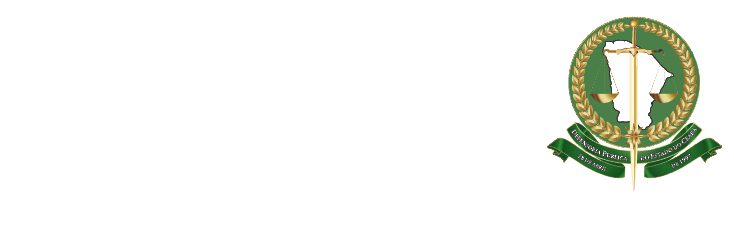“A gente se identificava como negro pela pegada da vida. Então, eu fiz uma alquimia e misturei tudo o que vivi.l E fiquei mais humana ao trabalhar com as comunidades quilombolas. Não dá pra agir individualmente.”
Matilde Ribeiro
63 anos.
Assistente social, primeira ministra da Igualdade Racial do Brasil e professora.
Nascimento: Flórida Paulista (SP).
Atuação: Redenção (CE) e Fortaleza (CE).
“O caminho é a luta. Não tem outro”
De longe, o prédio no qual Matilde Ribeiro mora é uma construção habitual de bairros periféricos dos grandes centros urbanos: um residencial de poucos andares numa rua só de casas e próximo a uma lagoa com nome indígena. De perto, por dentro, porém, é um refúgio interessante de observar pelos detalhes que oferece. A começar pelo adorno de plantas já na entrada, como um decreto da importância da natureza.
 Foi diante dessa edificação, num apartamento no térreo, que a ex-ministra de Estado e agora professora universitária recebeu a equipe da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Ceará. Era meio da manhã da mais concorrida sexta-feira de setembro no calendário de entrevistas do “Todas somos uma”, pois da Maraponga iríamos ao Bom Jardim, e, ainda assim, o bate-papo durou mais de duas horas. Foi o mais longo do projeto.
Foi diante dessa edificação, num apartamento no térreo, que a ex-ministra de Estado e agora professora universitária recebeu a equipe da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Ceará. Era meio da manhã da mais concorrida sexta-feira de setembro no calendário de entrevistas do “Todas somos uma”, pois da Maraponga iríamos ao Bom Jardim, e, ainda assim, o bate-papo durou mais de duas horas. Foi o mais longo do projeto.
Matilde Ribeiro trajava um vestido verde, longo, florido e logo nos apresentou a irmã, Malu, uma mulher sorridente, das costuras e das sensitividades, daquelas que te olham e dizem: “você tem uma aura boa”. As duas dividem os dias e assemelham-se no semblante e nos cabelos grisalhos. Aprovada em concurso público para dar aula na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), em Redenção, a ex-ministra mora no Ceará há três anos e cercou-se não só de um amor familiar para viver os dias. É rodeada também de energias transatlânticas.
O apartamento tem símbolos africanos por todos os lados. Máscaras, artefatos outros, tecidos, carrancas, instrumentos musicais, quadros, objetos de decoração… Tudo fruto das visitas feitas ao continente originário da vida em missões oficiais de Governo. Dos 54 países africanos, Matilde conhece 21. Tem tanto carinho por tudo o que experienciou nesses lugares e em comunidades quilombolas brasileiras que fez do próprio lar um esconderijo no qual povoa a si mesma do que há de mais precioso: a ancestralidade.
As paredes colecionam fotografias. Memórias de sentimentos bons da infância, ao lado dos pais e já mulher feita. Lula se repete em algumas. Natural. Foi nas gestões dele que ela tornou-se a primeira ministra da Igualdade Racial da história do Brasil. Aquela a enfrentar as primeiras discussões e resistências, inclusive internas, no Governo do qual fazia parte, à hoje exitosa política de cotas raciais, cuja necessidade precisou provar até mesmo ao presidente.
Enquanto montávamos os equipamentos da entrevista, Matilde dava no computador os últimos retoques ao novo livro – o segundo volume da coleção Mulheres Negras Em Movimento – e revelava que, pela idade, por ser grupo de risco ao Covid-19, ainda dava aulas no formato remoto e não estava certa se aceitaria o convite para envolver-se, como o faria a posteriori, como articuladora e liderança do PT, partido ao qual é filiada, na eleição ao Governo do Ceará.
Entre um gole e outro de uma água saborizada preparada pela irmã, a professora proseou não só com palavras. Foi uma entrevista de corpo inteiro, dados os tamanhos agigantados dos gestos de Matilde. A ex-ministra é uma mulher expressiva. Braços e traços faciais falam por si, tanto quanto o olhar, fixo e penetrante. Tudo é reflexo imediato do que ela sente.
Diante de uma parede amarela cujo único adereço é um mosaico vermelho com 12 símbolos de diversas culturas africanas, presente de uma das viagens ao continente originário, Matilde Ribeiro viu a própria negritude encontrar com outra, do repórter, de quem ouviu um agradecimento por insistir numa ação afirmativa (as cotas) essenciais à reparação histórica ao povo negro que ainda está por ser feita neste país. Era/é ele um dos beneficiados por essa política dos acessos.
Confira a entrevista.
 DEFENSORIA: Gostaria que a gente iniciasse do início, com a senhora se apresentando e já falando do começo da sua trajetória, lá em Flórida Paulista…
DEFENSORIA: Gostaria que a gente iniciasse do início, com a senhora se apresentando e já falando do começo da sua trajetória, lá em Flórida Paulista…
MATILDE: Eu me chamo Matilde Ribeiro. Eu sou assistente social, dentre tantas outras coisas, porque não fiquei só no Serviço Social. Morei em Flórida Paulista, uma cidade do norte de São Paulo, quase chegando no Mato Grosso do Sul, até os sete, oito anos de idade. Depois, meus pais decidiram se mudar para a Grande São Paulo. Fomos morar em Osasco, mais precisamente num bairro chamado Rochdale. Esse bairro, a gente vê de vez em quando na TV. Toda vez que chove, ele alaga. Então, morei em Osasco até os 23 anos.
Quando minha mãe morreu, eu tinha 15 anos. Eu me tornei mãe. Cuidava da casa, das irmãs mais jovens… Minha irmã mais velha continuou trabalhando pra ajudar meu pai financeiramente e eu virei a dona de casa. Então, as lembranças que eu tenho deste período é que era bastante comum no meu dia a dia eu estar envolvida com lavar roupa no tanque, porque não tinha máquina de lavar… Era tudo bem rudimentar. A casa era muito pequena. Nós morávamos às vezes em três cômodos, às vezes em dois cômodos. A casa era sempre alugada. Foi uma batalha grande.
Entre os 15 e os 20 e poucos, a minha maior vinculação com o ser jovem, com amigos, com a juventude, era a escola. Eu nunca parei de estudar. E também comecei a trabalhar muito cedo, uns anos antes de ela morrer. Quando ela morreu, eu interrompi o trabalho fora de casa e fui trabalhar dentro de casa. Até que meu pai se casou de novo. Então, o estudo era uma coisa muito presente na minha vida. E tinha uma coisa que era bem bacana: eu dançava. Eu ia pra baile black naquela época. Fim de semana era uma legião de jovens negros andando pelos bairros procurando bailes e, eventualmente, vínhamos pra São Paulo, porque era um pulinho de Osasco pra Zona Oeste de São Paulo, à procura de onde tinha baile black. Então, eu fui uma excelente dançarina na minha juventude e hoje eu costumo dizer que era uma militância. Eu não sabia, mas era. Porque através dos bailes blacks nós conhecíamos personalidades. Não tinha nada dessa tecnologia que tem hoje, mas a gente tinha formas de acessar informações sobre Steve Wonder, pessoas do mundo black dessa envergadura. Eu era apaixonada por Michael Jackson, Jackson 5 e essas coisas todas.
Depois fui estudar na PUC, fiz graduação em Serviço Social e montei uma república com minha irmã, aí fomos morar em São Paulo. Então, eu saí da periferia da periferia e fui morar, com 20 e poucos anos, num bairro chamado Pinheiros, que é o top. Mudou completamente, chegar nas coisas, as amizades, tinha festa todo fim de semana… Eu fui viver de fato uma vida que a minha juventude permitia. Porque, antes disso, eu tive uma vida bastante vinculada à família.
O dançar e o estudar eram fontes de energia pra mim. E também a grande preocupação com as irmãs mais novas, com o futuro. Esse cuidar é uma coisa que sempre esteve muito forte na minha vida.
DEFENSORIA: Essa busca pelos bailes blacks era mais intuitiva ou existia essa discussão em casa? Como se deu a relação da senhora com a própria negritude, com a própria identidade? Ou foi alguém que disse pra senhora que a senhora era preta?
MATILDE: Em casa, não se falava sobre isso. Na minha casa, não se discutia política. Não tinha informação sistematizada. Mas tinha uma condição de bastante afeto. Era um quilombinho. Eu tinha muitos tios e tias. A minha casa era ponto de encontro da família. As pessoas se identificavam sim com o ser negro, mas não era a partir de uma discussão política ou de algum aprendizado oficial. Era pela pegada da vida mesmo.
Minha mãe tinha dupla jornada. Era dona de casa e trabalhava na casa dos outros. Lavava roupa, essas coisas. E meu pai era guarda noturno. Vigia. E nas conversas familiares eu lembro que identificava-se que a Polícia pegou fulano e fulano era preto. Que fulana virou prostituta e fulana era preta. Mas era mais de uma conversa cotidiana. Nessa época dos bailes, o que marcava mesmo era o swing. Não era discussão política. Era dança. Tinha uma coisa de identidade com os iguais. Toni Tornado e esse povo que hoje tem mais de 70, 80 anos. Aí, a gente dançava as músicas e cantava em casa.
 Eu tinha um tio que trazia discos pra casa. Aquelas bolachas. Nós ouvíamos muito samba de raiz e também ele colecionava discos. Eu conhecia Milton Nascimento, conhecia Jorge Ben Jor, conhecia a galera que fazia sucesso na época. E era fantástico. O conhecimento foi chegando dessa forma. O me entender negra foi mais próximo da época em que eu fiz faculdade. Eu entrei com 18 pra 19 anos. Estudei na PUC. Entrei nos anos 1980, exatamente 1980, com o Movimento Negro ali. Mas eu não fui. Eu não tive militância enquanto estudei na graduação. Por motivos óbvios. Eu trabalhava o dia inteiro e morava muito longe, porque a PUC fica na Zona Oeste de São Paulo e eu morava em Osasco. Então, eu saía de casa às 6 da manhã e voltava meia-noite todo dia.
Eu tinha um tio que trazia discos pra casa. Aquelas bolachas. Nós ouvíamos muito samba de raiz e também ele colecionava discos. Eu conhecia Milton Nascimento, conhecia Jorge Ben Jor, conhecia a galera que fazia sucesso na época. E era fantástico. O conhecimento foi chegando dessa forma. O me entender negra foi mais próximo da época em que eu fiz faculdade. Eu entrei com 18 pra 19 anos. Estudei na PUC. Entrei nos anos 1980, exatamente 1980, com o Movimento Negro ali. Mas eu não fui. Eu não tive militância enquanto estudei na graduação. Por motivos óbvios. Eu trabalhava o dia inteiro e morava muito longe, porque a PUC fica na Zona Oeste de São Paulo e eu morava em Osasco. Então, eu saía de casa às 6 da manhã e voltava meia-noite todo dia.
Isso já foi após ter sido efetivamente dona de casa. Eu tinha pouco tempo pra fazer outra coisa. Só dançava aos fins de semana e participei de alguns momentos na PUC, momentos políticos, porque era uma efervescência: a luta contra a Ditadura Militar, Diretas Já, a volta do movimento estudantil, o movimento negro da PUC…tudo ali, acontecendo ao mesmo tempo. Eu passava por aquilo e ia pra sala de aula porque sou disciplinada e porque eu pagava a universidade, isso pesava no meu bolso e eu não tinha tempo pra dispersar do meu objetivo de estudar. Mas eu participei, eventualmente, de algumas coisas: invasão da Reitoria, as festas que tinham no pátio que saía das rampas… Eu fui me despertando e tomando gosto pela política a partir disso, porque eu comecei a conhecer de perto. Conheci os colegas estudantes que faziam parte do Centro Acadêmico, eventualmente eu ia pra reunião, mas não foi um contínuo.
Eu fiz uma opção que não foi nem nada da ordem do “eu vou estudar e não vou pra militância”. Não foi isso. Foi intuitivo. A responsabilidade, o custo das coisas, o gosto por estudar, tudo isso contribuiu. Mas ficou aquele gostinho. O gostinho de ocupar ruas, de contestar a ordem capitalista. Era bem isso. Ficou esse gosto, que eu cai de cabeça assim que terminei a graduação. Eu terminei a graduação em 1983 e em 1984 eu já era militante do PT. Foi a primeira militância, que fui levada por alguns professores e professoras. A professora mais emblemática dessa época foi a Luíza Erundina, que foi prefeita de São Paulo, mas na época era professora da PUC, do Serviço Social, e era vereadora em São Paulo. Eu fui aluna dela e através do mandato da Erundina, eu fui me agregando a outras coisas e conhecendo os movimentos sociais.
DEFENSORIA: Vocês tinham conhecimento dos movimentos em defesa dos direitos civis nos Estados Unidos e dos movimentos africanos de libertação. Isso influenciava de alguma maneira?
MATILDE: Não, nem tanto. O que pegou mesmo foi a luta contra a Ditadura Militar. A gente tinha notícia de que fulano foi preso, que fulana morreu, que fulano foi torturado… E até pela natureza do curso de Serviço Social, que é um curso com lados bons e ruins. O ruim é você lidar com a pobreza mais cruel possível, mas também faz a ponte direta como agente público para quem tem sensibilidade política. Eu fiz essa ponte. Nesse período que fui pra dentro da militância e comecei pelo PT, automaticamente as coisas foram se compondo.
Através do PT, eu conheci feministas e fui pro movimento feminista, conheci a negrada e fui pro movimento negro. E fiquei nessas coisas o tempo todo. Até hoje, eu transito entre o movimento feminista, o movimento negro e o PT. Isso já tem 40 anos. E me tomou de gosto mesmo. Eu sempre curti essa situação de, como profissional, me ver atuando politicamente. Eu nunca fiquei só por conta da militância. Eu sempre trabalhei.
Eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos, nos arredores da casa. Em bar, como atendente de balcão, fui empregada doméstica, cuidei de criança, até começar a direcionar o trabalho pra esse campo mais profissional. Mas, antes disso, teve a fase do faz tudo. E eu, entre 18 e 19 anos, antes mesmo de entrar na faculdade, antigamente, a gente procurava trabalho por anúncio de jornal ou, então, boca a boca e batendo nas portas quando via as plaquinhas com “precisa- de…”. Eu vi num anúncio de jornal uma chamada pra seleção de recepcionista na Companhia de Engenharia de Tráfego. Eu fui entrevistada por uma advogada negra. Ela foi com minha cara logo de cara. Eu tinha meia página de currículo e disse assim: “ah, você nunca repetiu de ano, você gosta de estudar…”. Ela quis saber se meus pais tinham estudado e eu disse que minha mãe era analfabeta e meu pai era o que a gente chama de analfabeto funcional. Ele aprendeu a assinar o nome, a ler algumas coisas… Ao fim da entrevista, essa advogada negra olhou bem no meu olho e falou assim: “nunca perca seus objetivos. Você gosta de estudar. Estude. E saiba que, pra nós, a vida é muito difícil.”
Eu fiquei com essa frase na cabeça por muito tempo. Eu não entendi logo de cara o que ela quis dizer. Esse “pra nós, a vida é muito difícil”. À época, ela devia ter uns 50 anos. Enquanto eu trabalhei nesse lugar, ela me vigiou. Ela cuidou de mim à distância. Eventualmente, ela me dava um livro de presente. Ela passava e perguntava: “e aí, Matilde, tá gostando da faculdade? Lê tal coisa…”. Eu costumo dizer que ela foi meu programa de ações afirmativas, porque eu pagava muito caro pra estudar na PUC.”
 DEFENSORIA: Pagava caro e a PUC tinha alunos negros?
DEFENSORIA: Pagava caro e a PUC tinha alunos negros?
MATILDE: No meu curso, tinha. O Serviço Social é um curso que tem muita adesão de mulheres negras. Mas a gente não se organizava enquanto tal. Hoje em dia, lá em São Paulo, proveniente dessa passagem pela PUC, tem um grupo chamado Geres, que é o grupo de assistentes sociais negras, que tem mais de 15 anos de existência e agrupa muitas mulheres.
Bom…essa advogada negra se chamava Claudete Alves. Eu nunca esqueço dessa frase e da imagem dela. Fixou por ela ter me dado esse toque na vida. Com o tempo, eu fui entendendo o que ela quis dizer. E fui me interessando muito por entender a construção da pobreza, por entender o valor das políticas públicas…Isso, o Serviço Social me trouxe logo de cara.
A militância no movimento negro e feminista, ela é pontuada por algumas questões importantes que aconteceram naquele momento da vida. Em relação ao movimento feminista, eu tenho uma amiga cearense que é sete anos mais velha que eu e, quando a gente se conheceu, ela já era uma mulherona com quatro filhos, engajada em movimento, e eu era uma menina que conhecia pouquíssimo da vida. A Lourdes foi e é fundamental na minha vida. Ela me pegou pela mão e falou: “vamos numa passeata”. Era uma passeata do movimento feminista. Nós trabalhávamos juntas. Viramos irmãs. Eu fui pra essa passeata, achei maravilhoso, fiquei sabendo das próximas reuniões e fui ficando. Eu fui pegando gosto pelos movimentos.
Em relação ao movimento negro, foi em 1988, na efervescência de contestação aos 100 anos da abolição da escravidão. Eu fazia parte do Conselho Regional de Assistência Social em São Paulo e chegou uma carta do movimento negro convidando o conselho pra se agregar à organização das atividades dos “100 anos sem Abolição”. Era assim que o movimento tratava: aboliu o quê a abolição? Então, numa discussão na direção do conselho, eu era a única negra, chegou a carta e todo mundo apontou pra mim. Eu fui lá ver o que era e fiquei. Tanto é que eu abandonei a militância na categoria. Eu continuei participando dos congressos e coisas mais gerais, mas não mais como uma militância sistemática.
Tem uma vinculação da questão racial com o Serviço Social que aconteceu também impulsionada por essas coisas que eu estou falando. No final dos anos 1980, teve o sexto Congresso Nacional de Serviço Social. Algumas assistentes sociais negras que eu conhecia me convidaram pra escrever uma comunicação pra este congresso. E isso virou história, porque nunca tinha sido pautada a questão racial num congresso de assistentes sociais até aquele momento. Nós fizemos a comunicação pro congresso e, não por coincidência, mas pela efervescência política do momento, outras assistentes sociais de outros estados fizeram o mesmo. Então, nós chegamos no congresso e nos conhecemos. Nós éramos, pelo menos, três grupos. Nos encontramos cada um com uma comunicação dizendo que a questão racial tinha que ser inserida no aprendizado, na vida profissional e política da categoria.
Eu sou trabalhadora 24 horas. Hoje, por exemplo, eu comecei a escrever às cinco horas da manhã. Isso fez com que eu tivesse condição e energia pra ter militância tripla: partido, movimento negro e movimento feminista. E tem uma base teórica que justifica isso, né? A interseccionalidade entre gênero, raça e classe. Eu já praticava isso sem saber. Desde os anos 1980.
Eu tive 13 anos entre sair da graduação e entrar no mestrado. Eu sempre trabalhei e nesses 13 anos eu trabalhei, ainda nos anos 1980, em uma ONG chamada SOF. Essa ONG existe até hoje. Ela foi fundada em 1964 e servia como aparelho pra mascarar a militância política em relação à repressão militar. E a SOF tem um histórico muito bacana de acolher a militância na época de chumbo da Ditadura. Mas, quando eu entrei, já não era mais isso. A SOF estava transitando entre ser uma instituição de ação social na área da saúde pra se tornar uma instituição feminista, tanto é que manteve a sigla e mudou o nome. Desde o surgimento até o fim dos anos 1980, era Serviço de Orientação à Família. Esse nome mascarava ação política contra a Ditadura. Quando eu cheguei, passou a se chamar Sempre Viva Organização Feminista, mantendo a sigla SOF. Trabalhar nessa ONG foi fundamental porque lá eu aprendi a colocar mais pra fora a minha criticidade e fui me tornando assessora dos movimentos sociais. E fiz isso durante muitos anos da vida.
DEFENSORIA: O que lhe levou a decidir fazer mestrado?
MATILDE: Quando eu fui pro mestrado, é porque eu senti que já tinha esgotado o meu conhecimento para aquilo que eu fazia. Eu não fui com a ideia de que eu seria professora. Isso foi uma contingência. Eu entrei no mestrado pra sistematizar toda aquela prática política que aconteceu nesse meio tempo. Compreender mais o papel dos movimentos sociais, compreender o papel do Estado… Eu estava precisando disso. Esses 13 anos de intervalo foram ótimos. Hoje, as pessoas engatam uma coisa na outra. Tem doutores com 30 anos, até menos… Eu acho que faz parte desse tempo, de agora, mas eu sinto falta nesses da vivência efetiva. Na Unilab, entram alguns professores novinhos sem nunca terem trabalhado ou militado. Só estudaram na vida.
Comigo não foi assim e eu gosto muito. Porque quando eu entrei no mestrado, eu tinha 36 anos. Eu já era uma mulher mais madura e com bagagem. Bagagem profissional, bagagem política, bagagem da vida familiar, bagagem dos bailes, enfim, tudo isso. Então, no mestrado, eu fiz uma alquimia. Eu misturei tudo isso. Nem publiquei a dissertação. Não tava preocupada com a vida acadêmica. A minha preocupação era conhecimento prático e teórico pra vida política. Foi bacana ter feito. Eu tava meio de mal com o Serviço Social naquela época. Hoje, eu deixei de ter a crítica que eu tinha quando eu fui fazer mestrado, tanto é que fiz o mestrado na Psicologia Social. Fui procurar outra área. Eu tava muito difusa no Serviço Social porque são muitas portas. E desde muito jovem, eu não sei te explicar por que, eu fui me inclinando pra Psicologia. Por que eu não fiz? Porque eu era pobre e o curso naquela época era bem elitizado: era diurno e integral. E eu sempre estudei à noite e sempre trabalhei. Então, o Serviço Social veio por osmose. Eu curti fazer, mas chegou esse momento de criticidade, em que eu tava querendo me definir melhor, me lapidar melhor. Ir pra Psicologia Social serviu pra eu ser uma assistente social mais forte do que eu era. Eu não me inclinei efetivamente pra área profissional da Psicologia Social. Eu curti o aprendizado, agreguei ao que eu já sabia como assistente social e decidi voltar pro Serviço Social. O doutorado, eu fiz no Serviço Social.
 Eu terminei o mestrado em 1999 e em 2001 eu entrei no doutorado. Quando eu me tornei ministra, em 2003, eu já tinha feito todos os créditos. Eu recebi um convite, a partir de um projeto que desenvolvi na Prefeitura de Santo André, onde eu trabalhava, pra ir embora pro Canadá por um ano pra fazer a sistematização desse projeto. Eu tava com passagem comprada, com lugar pra morar e com lugar pra trabalhar por um ano. E veio o advento Lula presidente. E eu tinha participado de todas as campanhas anteriores, considerando que desde os 24 anos eu fui me engrenando por dentro do PT, no PT Raça e Mulher. Quando o Lula ganhou as eleições, em 2002, eu fui fazer parte da coordenação do programa de governo. Isso durou todo o ano de 2002. Eu trabalhava, fazia isso e fazia o doutorado. Tudo ao mesmo tempo.
Eu terminei o mestrado em 1999 e em 2001 eu entrei no doutorado. Quando eu me tornei ministra, em 2003, eu já tinha feito todos os créditos. Eu recebi um convite, a partir de um projeto que desenvolvi na Prefeitura de Santo André, onde eu trabalhava, pra ir embora pro Canadá por um ano pra fazer a sistematização desse projeto. Eu tava com passagem comprada, com lugar pra morar e com lugar pra trabalhar por um ano. E veio o advento Lula presidente. E eu tinha participado de todas as campanhas anteriores, considerando que desde os 24 anos eu fui me engrenando por dentro do PT, no PT Raça e Mulher. Quando o Lula ganhou as eleições, em 2002, eu fui fazer parte da coordenação do programa de governo. Isso durou todo o ano de 2002. Eu trabalhava, fazia isso e fazia o doutorado. Tudo ao mesmo tempo.
Depois, quando finalizou a campanha e o Lula ganhou as eleições, eu fui novamente indicada. A primeira indicação pra coordenação do programa de governo foi feita pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, com a adesão de alguns setores do movimento negro. Eu costumo dizer que ninguém é unanimidade, né? Nem Deus. Então, não era todo o movimento negro. Eram setores. Depois, eu fui novamente conduzida pela Secretaria para fazer parte do governo de transição, que naquela época foi bem bacana. Não era comum. O Fernando Henrique e o Lula trabalharam juntos na transição entre os mandatos. E eu fui indicada, então, pra fazer parte da equipe geral. Mas com a responsabilidade de fazer o levantamento do que acontecia no governo Fernando Henrique sobre a questão racial e gerar um relatório. Isso durou uns três meses. E a Secretaria de Igualdade Racial, onde eu fui ministra, foi criada três meses após a posse do Lula.
DEFENSORIA: Mas esse lugar da institucionalidade era algo que a senhora vislumbrava?
MATILDE: Não! Nunca pensei nisso. A minha paixão sempre foi a movimentação de rua, movimento social. Eu sempre estive envolvida com isso. Não como uma liderança vinculada a um movimento X. Mas eu trabalhei como assessora de movimentos sociais. Eu assessorava o movimento de saúde da zona leste de São Paulo, que tinha projeção nacional naquele momento de construção do SUS e na fase da formação dos conselhos populares de saúde. Eu militava nesse campo e no movimento negro feminista.
Circulei pelo Brasil inteiro entre o final dos anos 1980 até 1995, enquanto fiquei na SOF. Então, eu fui me tornando uma pessoa que assessora movimentos sociais. Profissionalmente, mais diretamente o movimento de saúde, mas saindo de São Paulo, a SOF era convidada pra dar cursos de formação política pro movimento feminista, pro movimento negro, pros movimentos em geral. Então, eu circulei muito pelo Nordeste, pelo Norte e era isso que me energizava. Nunca pensei na vida institucional. Tanto é que quando a Erundina foi eleita prefeita eu não fui trabalhar no Governo. Eu continuei na SOF e nessa relação com os movimentos sociais. A institucionalidade pra mim era um bicho papão. Eu não gostava. Mas nesse processo do Lula e da criação da Seppir, pelo fato de ter acompanhado desde o momento inicial, na campanha, eu fui me envolvendo. Nós fizemos um seminário em cada região do Brasil e um integrando todas, pra ir construindo o programa de governo, que veio a se chamar “Brasil sem racismo.”
Até a construção da Seppir, eu nem imaginava ser ministra. Porque nós, que somos cidadãos comuns, que não temos a tradição de passar de pai pra filho, essa coisa da elite, eu pensava que ia voltar pras coisas que eu já vinha fazendo. Mas veio a criação da Seppir, eu coordenei a equipe que desenhou a Seppir num primeiro momento, linkando ao programa de campanha. Então, era transformar o programa de campanha em indicativo para ação de governo. E isso virou a disputa pra quem seria o ministro e a ministra. Choveu gente! Vocês sabem como é disputa, né? Choveu gente de tudo o que é canto. E até a véspera da criação da Seppir eu não sabia que seria eu a ministra. O Lula anunciou na véspera. Quer dizer, anunciou não publicamente. Chamou na véspera os coordenadores da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT e algumas entidades do movimento negro e argumentou que tava escolhendo a mim, porque eu já vinha de dois processos anteriores.
Não foi total surpresa pra mim, porque eu já tava envolvida com aquilo. Mas o frio na barriga foi imenso. Por que o que é ser ministra, afinal? Ninguém tinha essa vivência. Ninguém vindo da origem do PT e do movimento social tinha essa vivência. A maioria dos ministros já tinham sido deputados, senadores e tinham vida pública. Eu fui a única conduzida por movimento social. Então, a cada dia era uma surpresa. Foi aprender fazendo.
DEFENSORIA: Hoje, como a senhora define o que é ser ministra?
MATILDE: Pra mim, ser ministra foi ser uma gestora de uma área que não tinha lastro político. Então, eu me coloquei a serviço da construção da política de igualdade racial, meu conhecimento profissional e meu conhecimento político. É você colocar a cara na janela e chamar o Brasil pra se sensibilizar, se envolver e se engajar com a crítica ostensiva ao racismo e transformar necessidades históricas em ação. Em ação governamental.
Esse papel de gestão da política da igualdade racial nunca foi muito bem definido. E, depois de mim, vieram quatro ministros, sendo duas ministras e dois ministros. Eu tenho um amigo que trabalhou na Seppir e diz que eu fui a arquiteta da construção. Eu e a equipe, obviamente. Ninguém faz nada sozinho. Mas ele diz isso, que eu fui a grande arquiteta, porque depois, com as mudanças de ministros e de presidentes, tudo foi agregando ao desenho de uma espinha dorsal que não mudou.
Eu me sinto hoje muito grata por ter tido essa oportunidade, que é pra poucos. E, comigo mesma, eu me sinto muito confortável. Porque eu dei tudo o que tinha. Eu dei o melhor de mim pra que o negócio acontecesse. Eu não fico “ah, eu podia ter feito isso e aquilo”. Não. Eu sei que um monte de coisa deveria ser feita; questões históricas que você não resolve em pouco tempo. Não é em uma nem duas nem três nem quatro gestões que se resolve. É uma política continuada.
DEFENSORIA: A proximidade com a Conferência de Durban, quando o Estado brasileiro admitiu que é racista, influenciou na estruturação da Seppir? Porque esse marco histórico foi uma virada de chave muito forte pro movimento negro…
MATILDE: Eu considero que a mudança de chave foi anterior a Durban. Foi a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, em 1995. Nessa marcha, eu estava nela e a literatura diz que ela agregou 30 mil pessoas. Tem lugar que fala 20, tem lugar que fala 30. Eu era uma militante de base. Não era direção dessa marcha. Mas o que eu avalio: a marcha foi construída de uma forma que qualquer que fosse o presidente, qualquer que fosse a posição política do cabra, ele não tinha por onde fugir.
O presidente Fernando Henrique recebeu a coordenação da marcha e a coordenação da marcha entregou pra ele um documento, que é o Programa pela Superação do Racismo no Brasil, e a negociação pra que o movimento fizesse parte disso. A pressão foi tamanha, porque não era só o movimento negro. A marche teve o protagonismo do movimento negro, mas agregou todos os setores de esquerda e progressista. Estavam lá a CUT, o PT, os sem terra, partidos de meio de campo, movimento feminista… O movimento negro liderou. Foi um boom.
Foi criado o GTI, o Grupo de Trabalho Interministerial, pra onde foram as principais lideranças do movimento negro nacional pra dentro. E também representantes do Governo. A partir daí, começou a balançar a roseira. Em função da ação do GTI, o Ministério das Relações Exteriores lançou bolsa pra carreira diplomática pra negros, começou a ser trabalhada mais intensamente a política de quilombos e, na área de educação, ainda não eram as cotas, mas começou a se trabalhar o caminho de uma educação pra igualdade racial. Esse foi o start.
 Quando o presidente Lula entra, dois anos depois da Conferência de Durban, nós tínhamos também a pressão internacional. Juntou tudo. Juntou a vivência histórica do movimento negro com os resultados da marcha e a Conferência de Durban. Naquele momento da conferência, em 2001, eu tava muito enfronhada na ação municipal em Santo André, onde fui assessora dos direitos da mulher. Minha vida estava muito localizada e eu não participei da conferência. Eu participei de algumas atividades nacionais da conferência. E acho que até talvez por isso virei ministra. Porque da mesma forma que o movimento negro e, mais acentuadamente, as mulheres negras foram superativas e ativos na Conferência de Durban, também brigaram muito. Então, as lideranças voltaram pro Brasil estremecidas. Cada um querendo mostrar maior empenho nesse processo.
Quando o presidente Lula entra, dois anos depois da Conferência de Durban, nós tínhamos também a pressão internacional. Juntou tudo. Juntou a vivência histórica do movimento negro com os resultados da marcha e a Conferência de Durban. Naquele momento da conferência, em 2001, eu tava muito enfronhada na ação municipal em Santo André, onde fui assessora dos direitos da mulher. Minha vida estava muito localizada e eu não participei da conferência. Eu participei de algumas atividades nacionais da conferência. E acho que até talvez por isso virei ministra. Porque da mesma forma que o movimento negro e, mais acentuadamente, as mulheres negras foram superativas e ativos na Conferência de Durban, também brigaram muito. Então, as lideranças voltaram pro Brasil estremecidas. Cada um querendo mostrar maior empenho nesse processo.
Eu não tinha ido e estava bastante ancorada pelo PT naquele momento da transição. Eu nunca fui dirigente local nem nacional, mas sempre fui ativa e me fiz conhecer nacionalmente a partir das discussões de raça e gênero. Então, a junção do programa “Brasil Sem Racismo” com a declaração e plano de ação de Durban e a efervescência da militância de esquerda quando o Lula ganhou foram o lastro pra negociação da Seppir.
DEFENSORIA: Mas não foi fácil…
MATILDE: Nãããão. Não foi fácil. Tanto é que antes da posse, ainda no momento de transição, nós fizemos toda uma negociação pra que a Seppir viesse a existir. Não tinha esse nome ainda. E tinha a amarração de que seria anunciada na posse. E não foi. A única negra que consta da fotografia da posse é a Benedita da Silva, que foi ministra da área da Assistência Social. A Seppir não foi criada. Nós tivemos que recomeçar a negociação pra que ela fosse criada em 21 de março de 2003. Aí, a pergunta que vem quando eu falo isso é: “mas não estava negociado?”. Uai, tava. Mas dá pra confiar?
A continuidade, a permanência, a perenidade do racismo se dá justamente por isso. É um dos aspectos. A vida institucional brasileira nunca teve coragem de olhar pra trás, pro que foi o arrombo da escravidão e a não inclusão dos negros depois da escravidão, e a gente vive o rescaldo disso até os dias de hoje. Pra diplomacia, pra vida institucional, o racismo não existia. O movimento negro que teve o papel histórico de ir lá, cutucar, depois da abolição da escravidão, entre tantas coisas, vem no lastro aí a Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro, do surgimento do MNU, e tudo isso sempre numa perspectiva de convencimento do Estado brasileiro de que racismo existe e tem extrema necessidade numa atuação institucional em relação a isso.
O Florestan Fernandes e o Roger Bastide, lá nos anos 1950, já diziam que precisava ter política voltada pra população negra. Falavam pela voz da academia. Pela voz política é: o racismo não existe. Então, não foi fácil. Não foi e não será, considerando que neste momento em que a gente está vivendo há um desmonte das políticas públicas e, com isso, as políticas de igualdade racial.
DEFENSORIA: Como foi ser a responsável pela criação da política de cotas?
MATILDE: Eu considero que algumas ações feitas no Governo Lula e no Governo Dilma são muito emblemáticas pra derrubar a farsa da democracia racial e não derrubou 100%. Mas balançou a roseira.
Sobre as cotas, eu participei, como ministra, da sedimentação do que veio a ser a Lei 12.711, a Lei de Cotas. Eu acompanhei até um determinado momento e, depois, a fila anda. As coisas continuaram acontecendo. Eu saí do Governo de uma maneira muito desgastada, envolvida num grande escândalo, em 2008. Então, construir a Lei de Cotas foi um processo muito árduo. Muito árduo. Por quê? Se não tem racismo, por que vai ter cotas? É a fala conservadora e da elite brasileira. E esse pensamento conservador e da elite tá na elite e tá lá também no trabalhador dos mais pobres possíveis, pela lavagem cerebral e a condução da ideologia dominante.
Nós tivemos que convencer internamente o Governo que tinha que ter cotas. Não havia convencimento. Não havia convencimento do Lula. Não havia conhecimento do ministro da Educação. Não tinha conhecimento dos técnicos. Foi uma construção fina feita. Foi formada uma comissão mista, Governo e sociedade civil, e essa comissão teve a missão de conversar internamente no Governo, no Legislativo, no Judiciário e com a sociedade. E a sociedade civil, contestatória às cotas, foi capitaneada pela academia. A professora Yvonne Maggie foi a grande mentora dessa posição contrária às cotas, junto com tantos outros: Peter Fry, Bila Sorj e assim por diante.
DEFENSORIA: Inclusive alguns que, hoje, se dizem a favor…
MATILDE: Exato. É, vamos considerar que o ser humano pode mudar de posição. E é bom que mude. Mas a coisa foi muito apimentada. A academia reagindo contra com Demétrio Magnoli, enfim, vários deles. Setores institucionais jogando contra. E setores do movimento social jogando contra. Eu lembro que antes da aprovação das cotas, eu não estava lá, mas eu acompanhei pela mídia e pela troca de experiências e o debate político, em 2010, o Supremo Tribunal Federal fez uma audiência não pra discutir abertamente cotas. O ponto era a UnB. As cotas na UnB, que foi a primeira federal do Brasil que implementou cotas junto com duas estaduais: a Uerj e a Uneb. E esse coro contra repercutia pra dentro das instituições.
O Legislativo é o fiel da balança pra tudo o que acontece em relação à política pública. E a voz pública do Legislativo era contra as cotas. Nós tivemos que, por dentro, convencer os parlamentares. Os negros, a maioria deles convencida. E quando eu falo “maioria” é porque a gente tem que admitir uma coisa terrível por ser inconcebível, mas tem movimento negro de direita no Brasil. E eles também interferem nas casas legislativas e na vida institucional. O trâmite do debate sobre cotas durou mais de uma década entre os poderes políticos. E, no movimento social, uma efervescência total. Eu acho que o debate público em relação à necessidade das cotas raciais inclusive impulsionou pra que não fossem só raciais. As cotas são também sociais, entra a questão das pessoas com deficiência. O raio foi ampliado, mas o responsável por fazer esse debate público pulsar foi o movimento negro. Não foi fácil, não é e não será.
Em 29 de agosto de 2022, completou dez anos da aprovação da Lei de Cotas. Há uma interpretação completamente múltipla em relação ao que está na Lei de Cotas. A lei diz que tem que ter uma revisão. Não diz que é pra terminar. E é mais palatável pra sociedade e pra alguns setores políticos dizer que os dez anos e a avaliação são pra acabar com o sistema de cotas. Mas isso não está escrito na lei. O que eu acredito é que a batalha não tá ganha em relação às cotas ou mesmo às políticas de quilombo, às políticas de igualdade racial como um todo.
Mas nós temos situações emblemáticas de avanço. A fotografia das universidades brasileiras mudou. E tem alguma fotografia que é preta, que é a fotografia da Unilab. Mas as demais universidades, todas as universidades públicas, elas, por lei, por força da lei, têm que desenvolver a política de cotas. Não é porque os conselhos acadêmicos estão totalmente convencidos. Mas o fato é que tem cota em todas as universidades federais brasileiras, com formatos diferenciados. Uma preza mais por trabalhar acesso, permanência e continuidade, o que é raro. Na maioria dos casos, fez-se o acesso e o aluno e a aluna tem que se virar lá dentro. Essa é a maioria dos formatos. E, publicamente, se faz o debate sobre a combinação entre acesso, permanência e olhar pra fora, pro mundo do trabalho. Esse é o debate que tem que ser feito mais e mais.
Eu não sou uma pessoa pessimista. De forma alguma. Eu acredito bastante na construção coletiva das coisas. E, em relação às cotas, o movimento negro, o movimento social progressista e de esquerda eu acho que estão convencidos de que as cotas têm que continuar. É um debate mesquinho que acontece dentro dessa linha de contraposição, de defesa e ataque. O debate mesquinho é dizer que o movimento negro tá contente com as cotas e só quer cotas. Não. Não é isso. Há uma construção desde ação do movimento político, como na academia, de que a educação foi historicamente avessa à presença e à qualidade dos negros dentro do sistema educacional.
 DEFENSORIA: A gente teve até Constituição que proibia o acesso de pessoas pretas à escola…
DEFENSORIA: A gente teve até Constituição que proibia o acesso de pessoas pretas à escola…
MATILDE: É, justamente porque analfabeto não votava e tudo mais. Então, eu acho que o convencimento, depois de dez anos, vendo a mudança da fotografia das universidades e até a defesa que boa parte dos cotistas faz da política. Tem uns que têm merda na cabeça, entra e sai achando que não deve ter cota, mas usufrui delas. Mas a maioria, pela vivência também, eu acho que se convence. Eu não sou pessimista, mas também não sou Alice. Eu entendo que a batalha não está ganha, que tem que continuar o processo de luta pra garantir a conquista. Nessa linha da garantia do processo de luta, aí sim eu aposto que o negócio tem continuidade.
DEFENSORIA: A senhora já disse que não pensava ser professora e que não pensava no campo da institucionalidade, mas acabou ocupando esses dois lugares…
MATILDE: Eu também dizia que não ia casar… (risos)
DEFENSORIA: Qual é a sensação de chegar numa sala de aula de uma instituição como a Unilab e ver tantas pessoas parecidas com a senhora? A senhora sente o quê? O que a Unilab representa para o ecossistema educacional?
MATILDE: Pra falar disso, da sala de aula, eu vou te contar uma história que eu vivi com os quilombolas. Eu coordenei a construção da política de quilombo. O Decreto 4887 e ,depois, o programa Brasil Quilombola. Foi um presente da vida. Eu aprendi muito. Eu fiquei muito mais humana, muito mais sensível às desigualdades trabalhando com os quilombolas. E um dia teve uma situação no Maranhão. Eu fui representando o presidente Lula. Era uma audiência pública construída pelos quilombolas e saiu uma senhora do meio do público e veio se direcionando pra onde eu estava sentada com as demais autoridades. E essa mulher teve uma fala fantástica, que foi a seguinte:
“A senhora é ministra, né? Eu não sei muito bem o que é isso. Mas a senhora está aqui representando o presidente Lula, né? Engraçado, a senhora é ministra, mas se parece com a minha filha, com a minha mãe, com a minha tia… A senhora se parece comigo! A senhora é minha parenta. Me desculpe. Eu não sei falar, porque eu não sei ler e escrever.”
E ela me deu uma aula sobre quilombo! Ela contou tudo o que acontecia lá no quilombo e quais eram as demandas a serem levadas para o Governo Federal. E, no meio da contação de causo dela, ela falava assim: “mas a senhora vai falar pro presidente Lula, não vai?”. E, no final, ela tava me dando ordem. Foi fantástico. Ela foi ficando mais propositiva e dizia assim: “a senhora vai falar com o Lula!”. No final, ela fechou dizendo assim: “fala pro Lula que aqui quase 100% das pessoas que moram nesse quilombo votaram nele. Mas que a gente já aprendeu que da mesma maneira que a gente vota a gente retira voto, se a gente não for atendida.”
Foi muito bacana essa fala dela. Ela dizia assim: “o Lula tem que olhar pra juventude, porque se os jovens não tiverem apego por ficar aqui no quilombo, eles vão lá pro Sul, pra se tornarem bandidos, marginais. Eles não podem sair daqui”. Ela contou tudo em detalhes. Foi um tesão trabalhar com quilombos. E eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. O trabalho pra mim não é um peso. Eu conquisto coisas com o trabalho. Porque eu faço o que gosto.
Nessas construções, essa mulher me ensinou o que a universidade não me ensinou. Fazendo uma comparação com a Unilab, eu escolhi estar na Unilab depois que saí do Governo Federal. Eu saí do Governo Federal perseguida pela mídia, com a pecha de que eu tinha roubado em função da merda de um cartão corporativo que eu usei por engano e paguei a conta da minha assessora num Free Shop. Como eu achei que tinha pago no meu cartão pessoal, eu não fiquei pastorando. Passaram alguns meses e uma pessoa do administrativo da Seppir veio falar comigo sobre um gasto estranho. Mas era fim de ano, todo mundo saindo de férias e uma pessoa da Seppir me sugeriu sair de férias e resolver isso quando voltasse. Quando eu voltei, eu tinha sido comida pela mídia. Mas eles pegaram meu cartão no Portal da Transparência. Que bom, né? Funciona o negócio!
Depois que eu saí do Governo nessa condição, eu fiquei esperta, né? Porque eu não tinha pra onde voltar. Eu não era servidora pública. Eu fiquei cinco anos desempregadérrima. No período em que eu fui ministra, eu economizei dinheiro que dava pra comprar um apartamento. Eu comi esse apartamento durante os cinco anos em que fiquei desempregada. Então, eu tomei a decisão de prestar concurso pra ser professora. Eu tinha todas as exigências: doutorado, vida pública, tudo. Eu tinha tudo pra prestar um concurso e passar. E resolvi fazer na Unilab. Não contei pra ninguém. Na época, a professora Nilma Lino Gomes era a reitora. Eu conheço a Nilma. Não era super amiga, mas eu conhecia. Eu fiz questão de não contar pra ninguém, que é pra ninguém duvidar que eu fiz concurso pra valer. Passei em segundo lugar. Eu escolhi estar na Unilab e tenho o maior tesão.
Entrar ali naquele lugar é uma redenção. É estar na cidade de Redenção, mas também é sentir uma redenção. É a comprovação de que nos faltam oportunidades. Quando a gente tem oportunidade, a gente vai longe, uai! Nós não somos quadrados nem menos inteligentes! Quando tem oportunidade, a gente chega junto.
 DEFENSORIA: O Brasil é de maioria negra e feminina. Mas nem todas as mulheres negras tiveram a oportunidade de conquistar algo. Como é ter conquistado tudo o que a senhora conquistou sendo uma mulher negra, ex-ministra e doutora?
DEFENSORIA: O Brasil é de maioria negra e feminina. Mas nem todas as mulheres negras tiveram a oportunidade de conquistar algo. Como é ter conquistado tudo o que a senhora conquistou sendo uma mulher negra, ex-ministra e doutora?
MATILDE: Eu vivo a vida que quase 100% dos negros vive nesse país. Eu já contei como era minha casa, qual era a condição de vida dos meus pais, qual era a minha condição como estudante. Nada veio de graça. Nadica de nada. Como referência mais coletiva, isso acontece muito nos dias de hoje ainda. Eu fui a primeira pessoa da família a ingressar numa universidade. É o perfil dos alunos da Unilab. Não só os brasileiros, mas também os africanos. Então, eu considero que eu sou uma pessoa comum. Eu só tive oportunidades. Aliás, eu corri atrás pra ter oportunidades. Como nada cai do céu, também não cai pra maioria da população negra.
Eu acho que tem uma questão bastante emblemática nas pesquisas que a gente acompanha em relação à implementação das cotas nas universidades. É bastante ressaltado o fato que os alunos que entram pelas cotas uma boa parte agarra a oportunidade. Sempre tem as ovelhas brancas, né? Mas a maioria que entra pelas cotas agarra aquela oportunidade. A sala de aula da Unilab, que é composta por quilombola, por indígena, por trabalhador rural, por filhos de trabalhadores rurais, por empregadas domésticas… A maioria tem esse perfil. Óbvio que nesse meio tem as pessoas que tiveram mais oportunidades desde sempre. E, em geral, são os brancos, que são poucos dentro da Unilab pela missão da Unilab, que é de trabalhar a interiorização e a internacionalização e também trazer pra dentro do ensino essas questões históricas e culturais que geram desigualdade e racismo e, em geral, a sociedade não enxerga.
Essa junção de tantos primos, pessoas que têm um histórico de vida parecido com o meu, dá um negócio na sala de aula. Dá samba! O aprendizado é muito grande. Meu e deles! Eu curto muito, embora, voltando lá atrás, eu nunca tinha sonhado mesmo ser professora não. Pra boa parte das mulheres, esse sonho vai sendo construído desde criança. Mas eu não. Primeiro porque até um determinado momento da vida, eu nunca pensei em fazer faculdade. A maioria das pessoas que moravam na periferia e nos bairros onde eu morava não fazia faculdade nos anos 1970, 1980…
DEFENSORIA: A prioridade era viver…
MATILDE: Exato! Era viver! Sempre foi! Como é hoje, né? Quem faz, faz conciliando com trabalho e tudo. Uma das minhas orientandas que se formou essa semana me abraçou fortemente e me disse assim: “professora, eu tô aqui porque a minha amiga pagou a minha beca; se não, eu não teria condições de estar”. Ela não tinha um tostão. Esse perfil que entra nas universidades e entra na Unilab por ser a Unilab um projeto catalisador e não corresponde, de uma maneira geral, ao que é a sua missão, tem muito o que avançar ainda, mas faz a diferença. Nas universidades pelo Brasil afora, nas federais e também nos institutos federais, esse aluno que entra pelas cotas é um perfil não grato. Por dentro, é possível ir trabalhando o convencimento.
Eu estou no Ceará há três anos, mas estou na Unilab há oito anos. Eu comecei pela Bahia. Existe dentro da Unilab uma reação contrária a ela, por parte de alunos e também por parte de professores. Tem professores que fazem concurso pra Unilab, diferente do meu caso, que escolhi, tem professores que fazem pra startar a carreira e tá pouco se lixando pra o que é a missão da universidade. Entra pra startar a carreira e, a partir daí, vai pros seus objetivos elitizados. E é até bom que vá. Professores com esse perfil não têm que ficar na Unilab mesmo.
Eu, recentemente, conheci a Unila, lá em Foz do Iguaçu. Estava de férias e passei um dia conhecendo a Unila, que tem um projeto na mesma matriz da Unilab, só que com os latinoamericanos. As adversidades são as mesmas. Aqui, em Redenção e em São Francisco do Conde, na Bahia, são os africanos que incomodam. Lá, são os indígenas, são os latinos… É a mesma problemática. Agora, dentro dessa problemática, brincando com as palavras, tem solucionática. E a solução é firmar esse projeto. Eu, que não vim fazer carreira, porque já passei da idade de jogar energia na vida pra fazer carreira e tenho a vida profissional muito bem consolidada ao longo da história e tenho paixão pelo projeto, o tempo em que eu ficar na Unilab eu vou jogar pra dar certo.
DEFENSORIA: Já pensou em ser reitora?
MATILDE: Já pensei. Hoje em dia, não penso mais. Quando eu entrei no Malês, o grupo que entrou comigo, eu me convenci com este grupo de disputar a direção do campus. Eu fui diretora por um período. Depois, adoeci e tive que me afastar. Eu não penso na Reitoria porque no período em que eu fui diretora eu cheguei à conclusão que você faz a diferença do lugar que você está. Pra quem quer fazer a diferença, do lugar onde está, faz. Aliás, eu já sabia disso. Mas a experiência na diretoria dos Malês reforçou isso.
Essa minha saída do Governo Federal e tudo o que causou na minha vida me deixou meio arisca pra ocupar gestão. Na Unilab, lá em São Francisco do Conde, eu topei porque na minha cabeça e na cabeça das pessoas que construíram junto comigo essa ideia, porque não era uma ideia minha, eu fui convencida, mas a ideia era que ser diretora era um impulso pra vir a ser reitora e que daria pra fazer um trabalho político sendo diretora. Eu não consegui. A eleição foi uma disputa insana. Em 12 pessoas, nós conseguimos formar dois grupos oponentes. Foi insano. Não precisava daquilo. Mas foi vivido.
 Então, hoje, o que eu estou pensando pra minha vida pessoal, porque ser reitora é um projeto que não é só pessoal e sim político, mas o que eu vou fazer também é político… O que eu tô pensando: eu já tô pronta, já tenho autorização pra fazer pós-doutorado no ano que vem. Vou estudar a relação Brasil-África, que foi um dos meus encantos no período em que fui ministra. Já montei um projeto. Ele se estrutura no estudo sobre cooperação internacional na área da educação com os países de Língua Portuguesa. Eu pretendo fazer esse pós-doutorado. Ao fazer o pós-doutorado, ele vai direcionar a minha ação pra essa área de forma mais contundente, como foi quando eu fiz o doutorado.
Então, hoje, o que eu estou pensando pra minha vida pessoal, porque ser reitora é um projeto que não é só pessoal e sim político, mas o que eu vou fazer também é político… O que eu tô pensando: eu já tô pronta, já tenho autorização pra fazer pós-doutorado no ano que vem. Vou estudar a relação Brasil-África, que foi um dos meus encantos no período em que fui ministra. Já montei um projeto. Ele se estrutura no estudo sobre cooperação internacional na área da educação com os países de Língua Portuguesa. Eu pretendo fazer esse pós-doutorado. Ao fazer o pós-doutorado, ele vai direcionar a minha ação pra essa área de forma mais contundente, como foi quando eu fiz o doutorado.
Eu já estudei a construção de políticas públicas pra promoção da igualdade racial no Brasil. E a Seppir tá no meio disso. O doutorado me motivou bastante a conhecer a história do Brasil. Eu fiquei fissurada. Agora, por exemplo, eu estou terminando de escrever um livro com uma análise crítica sobre a independência e a continuidade da escravidão. Que merda é essa: o Brasil se independe e escraviza. Ter feito o doutorado direcionou dez anos da minha vida. Por isso que ao fazer o pós-doutorado vai ter uma reorientação da minha vida e eu vou me aposentar. Não que eu vá deixar de ser militante e deixar de viver…
DEFENSORIA: Suponho, então, que num futuro governo do PT a senhora não assumiria cargo…
MATILDE: Eu não tenho bola de cristal. Mas, a princípio, não. Mas não dá pra dizer “dessa água não beberei”. Porque minha vida está pautada nisso. Se eu tiver um convite interessante, eu vou pensar. Mas eu também acredito piamente no que vou falar: a fila anda. Passaram-se 20 anos, muitas pessoas chegaram no cenário, eu não estou tão envolvida com a construção do programa de governo como eu estive em 2002…
Então, eu tô no seguinte lugar: não tô babando, porque tem gente que já baba desde agora pra entrar, mas também não estou indiferente. Nessa perspectiva, eu tô construindo minha vida. Eu não tô parada. Vai ser de muito bom grado fazer o pós-doutorado ano que vem. Se eu fizer o pós-doutorado na relação Brasil-África, eu também vou estar contribuindo com o Governo. Então, em qualquer situação, eu vou ser feliz.
DEFENSORIA: A senhora é do interior de São Paulo, foi pra Bahia, passou por Brasília e, agora, está no Ceará, numa instituição com o perfil da Unilab. Como o racismo se apresentou pra senhora nesses lugares, porque cada um tem uma tradição racial diferente? As fricções sociais são muito distintas. Sua raça foi lida de que forma nesses espaços?
MATILDE: Olha…eu tenho quilos, trocentas histórias pra contar. Mas eu vou contar duas ou três. Lá atrás, quando eu me graduei e fui pro meu primeiro trabalho, eu vivi uma situação assim: era uma creche pública, no extremo da periferia. No cu do Judas, como a gente diz. Aí, chegou uma mulher, mãe de uma criança e falou assim: “eu quero falar com a assistente social”. Eu disse: “pode falar”. E ela: “não, é com a assistente social”. Eu entendi a jogada e fiquei fazendo hora. Até que ela falou assim: “você é muito novinha pra ser assistente social”. É óbvio que não era isso, né?
Em Santo André, quando eu trabalhei como assessora dos direitos da mulher, a anterior no cargo, que era minha super amiga, era loira. Então, fica nesse imaginário de que a assessora é loira. Eu falava com as pessoas, marcava com as pessoas e quando as pessoas chegavam era a mesma cena. “Você pode chamar a assessora?”. E eu dizia: “pode falar”. Até uma hora que as pessoas se davam conta.
Teve uma outra situação, como ministra, na realização da primeira conferência da igualdade racial, em 2005. Nós tiramos uma meta de conversar com os principais jornais do Brasil. Aí, estava eu lá, com a senhora Folha de São Paulo, conversando com o Otávio Frias, o dono, o patriarca, o dono da porcada. Ótima conversa. Me acompanhou, como um gesto de acolhida, o Gilberto Dimenstein, que também já faleceu. A conversa durou uma hora e tanto. No final da conversa, o senhor Otávio Frias pegou fortemente na minha mão, olhou bem no meu olho e falou assim: “onde foi que a senhora aprendeu a falar tão bem?”. Eu olhei pra cara dele e pensei: “ih, causa perdida”. Mas falei: “pois é, seu Otávio; o senhor sabe que a vida ensina, né?”. E fui embora. Não ia ficar batendo boca com um velho caquético.
O racismo se demonstra nessas situações emblemáticas, mas se demonstra no dia a dia. Não é porque é petista, não é porque é ministro ou ministra, não é porque é deputado ou deputada que as pessoas não são racistas. Eu via nos olhos das pessoas, tipo: “igualdade racial? Ministra negra? Pra que, se não tem racismo no Brasil?”. Eu aprendi a lidar com isso não de boa, porque mexe comigo. Mas eu aprendi a ironizar. Eu tiro onda com a situação, ué.
DEFENSORIA: Lhe fiz essa pergunta porque aqui no Ceará é muito forte o discurso de que não existem negros no Estado; logo, não são necessárias políticas de igualdade racial. Essas correlações de força vão pra sala de aula também?
MATILDE: Antes da sala de aula, vou contar duas situações emblemáticas da minha vida. Eu sempre vinha passear no Ceará. Eu, minha amiga Lourdes e a criançada, os filhos dela. Um dia, nós fomos pra praia. Aí, a criançada ficava olhando pra mim, querendo passar a mão em mim. E eu falei assim: “vocês nunca viram uma mulher negra de biquíni?”. Aí, eles falaram assim: “ah, Matilde, você é diferente da minha mãe”. E eu arriei o biquíni e falei: “onde que tá a diferença minha e da sua mãe?”.
DEFENSORIA: A senhora ficou nua na frente das crianças?
MATILDE: Foi, ué. Eu fiquei. (risos). “Onde é que tá a diferença?”. Essa foi uma das situações. A outra…
 DEFENSORIA: Não, ministra! Termine a história… E aí? (risos)
DEFENSORIA: Não, ministra! Termine a história… E aí? (risos)
MATILDE: (risos) Aí, eles ficaram tímidos, deram risada e tal, e eu falei: “a diferença é que a minha cor de pele é negra e a da sua mãe, não. Mas nós somos iguais. Somos mulheres. Temos peito, temos xoxota… Enfim, brinquei com eles.”
Outra situação: eu, conhecendo as belezas da cidade, eu usava o cabelo pra cima com um turbante, e tava andando na praça José de Alencar. Chegou um homem, branco, e me falou assim: “você é negra! Você é africana!”. Eu olhava pra cara daquele cidadão… Eu fiquei super assustada! Eu achei que ele ia me roubar, que ele ia fazer alguma coisa. O cara surtou comigo. Eu tava caracterizada de maneira diferente. Isso tem tempo. Tem mais de 20, 30 anos. Não sei o que deu na cabeça dele. Só sei que eu fiquei assustada e mandei ele me largar. Naquela época, não tinha cobertura midiática pra isso. Talvez hoje teria dado.
Mas eu tenho me aproximado das questões raciais do Ceará. Já me aproximei do professor Hilário, da Zelma, da Vera Rodrigues, que não é daqui mas chegou antes de mim. Tenho me aproximado dessa discussão e tenho orientandos que estudam escravidão. E assim…eu acho que a gente tem que produzir acadêmicas, políticas e cotidianas. Por exemplo: no meu aniversário, eu fui num bar aqui na Godofredo Maciel e a minha mesa era a mesa que tinha negros. Acho que a gente não tem que deixar de frequentar os lugares por causa disso. Não dá pra ser infeliz por causa disso, porque infelicidade mata. A gente tem que ir tomando vacinas, do ponto de vista pessoal, pra não ficar borocoxô, e tem que atuar politicamente.
Essa história do Ceará é a máxima construção do pensamento da democracia racial, que ficou incrustado aqui. Mas também tem um jogo. O racismo é tão cruel aqui quanto na Bahia. A Bahia, de maioria negra, você entra num restaurante e só tem branco. Você entra num hotel e só tem branco. Uma vez, como ministra, eu cheguei num hotel em Salvador, um hotel que eu frequentava sempre, e tinha um assessor muito despachado, um homem gay que era muito cuidadoso com tudo. Ele foi fazer check-in, foi puxando a minha mala e eu fui andando mais lentamente. O segurança fez assim: “psiu”. E de novo. E de novo. Na terceira vez, eu virei, disse “pois não” e o segurança disse: “você não pode subir”. Aí, o sangue subiu. O meu e o do meu assessor, que era um homem branco. Eu estava seguindo um homem branco. Ele me pediu calma, disse que ia me levar pro quarto e depois voltava pra conversar com o segurança.
Bom, moral da história: eu era uma puta seguindo um homem branco num hotel cinco estrelas. Aí, o meu assessor conversou com o segurança. No dia seguinte, nós fomos pra gerência. Contei o caso pro gerente. O segurança era um homem negro. Eu contei o caso, disse que racismo era crime e que eu podia acionar a Polícia, ele ficou assustado e eu disse: “o que você me dá em troca, então?”. Aí, nós acordamos de que nós íamos fazer uma formação com os funcionários daquele hotel. Medidas educativas e individuais. Mas eu acho que essas medidas têm que ser públicas, têm que fazer parte da política do negócio, seja ele público ou privado. Um segurança não pode fazer isso com uma pessoa dentro dum hotel. Mas é isso, a gente é tirado de tudo, né? De puta, de ladrão… Esses dias, eu vi uma notícia de que uma loja de Salvador colocou um manequim negro quebrando uma vidraça. Até manequim negro é bandido!
DEFENSORIA: Como a senhora avalia a evolução do discurso do movimento negro no decorrer dos anos?
MATILDE: Kabengele Munanga, o antropólogo lá da USP, tem uma formulação que eu acho ótima. Ele diz que o racismo brasileiro é um crime perfeito. Porque você nunca acha quem foi o assassino. É um lugar que tem racismo, mas não tem racista na aparência. Ninguém se coloca nesse lugar. E justamente por isso é muito difícil de tratar o racismo aqui. Porque ele é um bicho invasor que pega os buraquinhos, entra e faz a estrutura da coisa.
O movimento negro, historicamente, atua na lógica de que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E, por outro lado, o racismo está impenetrável a essa construção do movimento negro. Mas eu entendo que é o papel da contramão. Os movimentos sociais têm esse papel na sociedade, que é de manter a pauta ativa e atuar na pressão. A questão LGBTQIA+ é um exemplo disso. É uma pauta crescente na sociedade. Não só pauta, né? É gay e lésbica caindo pelos quatro cantos das ações, considerando que não é um fenômeno da atualidade e sim uma questão histórica, mas que hoje as pessoas se desarvoram a assumir publicamente. O armário tá mais vazio. As pessoas saem do armário. E isso é fundamental. Assim também como a questão das empregadas domésticas. As leis que foram construídas nesses 20 anos atrás foi uma construção feita pelas empregadas domésticas e impacta a sociedade ao ponto de a classe média dizer que não tem condição de pagar sua parte nos direitos delas e demitir essas trabalhadoras. Essa lei impactou sobremaneira a sociedade brasileira, porque ainda tinha quem imaginasse que a mulher preta que trabalhava na casa era uma escrava.
Eu tenho visto e aplaudido mudanças. Nossos cabelos não precisam mais ser alisados. Na minha adolescência, na minha juventude, imagina que eu sairia na rua com o cabelo que tenho hoje! Era obrigatório, praticamente, alisar o cabelo. O movimento das crespas! O 100% negro! Tudo isso é visibilidade de avanços concretos. A juventude na Unilab dançando no corredor! Tudo isso é lindo e reflexo das mudanças. Mas a gente não pode relaxar, né? Os movimentos sociais e os setores progressistas não podem relaxar! Porque a hipocrisia é tão grande e essa tese de que o Brasil tem racismo mas não tem racistas, isso alimenta a posição dos racistas e da elite brasileira. Então, o caminho é a luta. Não tem outro!
Eu e nós, que nos colocamos, seja como estudioso, seja como ativista, que nos colocamos no front da criticidade, não dá pra agir individualmente. Há dois recursos: um é a lei e a outra é a resistência política, porque a lei não é aplicada. Mas é coletivo. Não dá pra mostrar o carão o tempo todo e achar que vai salvar o mundo. Não vai. E, às vezes, a resposta não vem na hora. Tem que construir a resposta. Mas a ação coletiva é a alma do negócio. E quando a gente entende isso a vida segue.E nós também temos que fazer o exercício para não sucumbirmos a essa realidade. Porque se a gente for meter a cara nisso e não olhar pras belezas da vida também, mata. Pessoas morrem. O suicídio é muito comum no nosso povo e no indígena.
Teve uma situação muito emblemática em São Paulo. O Hamilton Cardoso. Ele era jornalista e tentou se suicidar quatro vezes. Na quarta, ele conseguiu. É disso que eu tô falando. A gente não deve sucumbir. Não dá pra gente trazer pra gente todo o peso dessa questão e nos tornarmos pessoas neuróticas, doentes. É um trabalho difícil. Manter a saúde mental diante dessa situação não é fácil. Mas é possível. Uma das minhas válvulas de escape, por exemplo, é a poesia. Eu escrevo desde a juventude, mas não tive coragem de mostrar durante muito tempo da vida. Tem um ano só que eu mostro. Eu abri um canal no YouTube e semanalmente publico. É um projeto meu e da minha irmã e eu envolvo amigos e amigas porque preciso da voz deles. O samba é um canal, a poesia é um canal, a fotografia é um canal. Enfim, nós temos que aprender a nos utilizarmos desses canais que não deixam a gente sucumbir.
DEFENSORIA: A senhora visitou 21 países africanos. E a África tem um jeito de enxergar a existência humana totalmente diferente da nossa. O que a senhora, enquanto mulher negra, aprendeu com o que viu e viveu nesses lugares? E o que nós, enquanto coletividade, enquanto Brasil, temos a aprender?
MATILDE: Aquela quilombola maranhense me deu uma super lição de altivez e determinação. Ela sabia o que ela queria. Não era consciente, porque ela me disse que eu teria que desculpá-la porque ela não sabia ler nem escrever e, portanto, não sabia falar. Eu não conhecia, antes de ser ministra, os quilombos e a África. Eu nunca tinha colocado o pé nesses lugares, embora já tivesse tido oportunidade de conhecer, pelo menos, todas as capitais do Brasil e alguns interiores.
Conhecer mais de perto e atuar pró-aproximação da África e a atenção às políticas de quilombo me fez abrir o olho de uma maneira que eu não tinha aberto antes. No seguinte sentido: o respeito. Você vai num quilombo e é tratado como rei. E não precisa ter título pra isso. Qualquer um de nós é tratado assim. Há uma receptividade, uma humildade, que não é de subalternização. É de simplicidade. De acolhimento pra vida. Isso eu aprendi indo nos quilombos.
 Não dá pra falar “a África”, porque são 55 países e cada país tem uma singularidade, mas o continente africano, em relação ao Brasil, tem uma ligação ancestral. A pegada é diferente, sabe? Por exemplo: o presidente Lula, quando chegava em algum país africano, ele era tão bem acolhido, os abraços que ele dava nos outros presidentes, parecia dois amigos se encontrando. E também a história. A história do Brasil e da África tem muita coisa em comum. Uma vez, um ministro de Angola chorou numa reunião quando falávamos de futebol. Tem coisas que remetem a uma vinculação ancestral.
Não dá pra falar “a África”, porque são 55 países e cada país tem uma singularidade, mas o continente africano, em relação ao Brasil, tem uma ligação ancestral. A pegada é diferente, sabe? Por exemplo: o presidente Lula, quando chegava em algum país africano, ele era tão bem acolhido, os abraços que ele dava nos outros presidentes, parecia dois amigos se encontrando. E também a história. A história do Brasil e da África tem muita coisa em comum. Uma vez, um ministro de Angola chorou numa reunião quando falávamos de futebol. Tem coisas que remetem a uma vinculação ancestral.
Agora…no Brasil, nós temos muita fantasia em relação à África. Essa visão ancestral da África mãe, eu acho bem bacana. Mas a gente não pode se iludir. Na África, tem capitalista, tem negro capitalista filho da puta como tem no Brasil e como tem em qualquer lugar do mundo. A colonização deixou marcas terríveis. Os conflitos tribais são produtos da colonização. Então, assim, tem muito aprendizado pra vida.
A cooperação que o presidente Lula e o ministro Celso Amorim trabalharam em relação à África tem todos os componentes da vida institucional, no caso capitalista, que é muita característica do nosso país, que é a permita econômica, o ganha-ganha. Mas tem também solidariedade, tem também respeito, tem também a busca do conhecer. Isso é fantástico. Em 22 de agosto, o Lula lançou um livro e me convidou pra dar um depoimento sobre a construção do caminho Brasil-África. E eu falei dessas coisas. Os governos, de maneira histórica, os governos mais tradicionais, quando falam de cooperação internacional, sempre olham pros Estados Unidos e Europa. Sempre olham pro primeiro mundo. E eu entendo que foram dados passos positivos no governo Lula, em especial, menos no governo Dilma, mas de uma aproximação de cooperação com solidariedade e respeito. Isso é super importante. Isso tem que voltar.
Defensoria Pública do Estado do Ceará
Av. Pinto Bandeira, nº 1.111, Bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza – CE, CEP 60.811-170.
Telefone: (85) 3194-5000
Defensoria Pública Geral do Ceará 2025 | Política de Privacidade