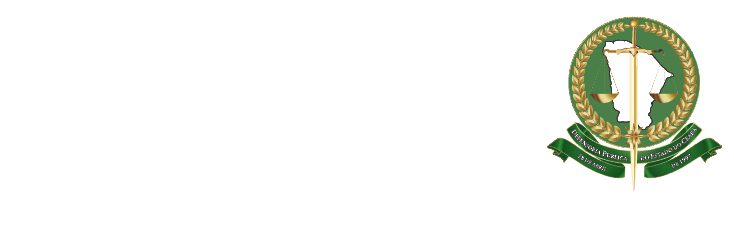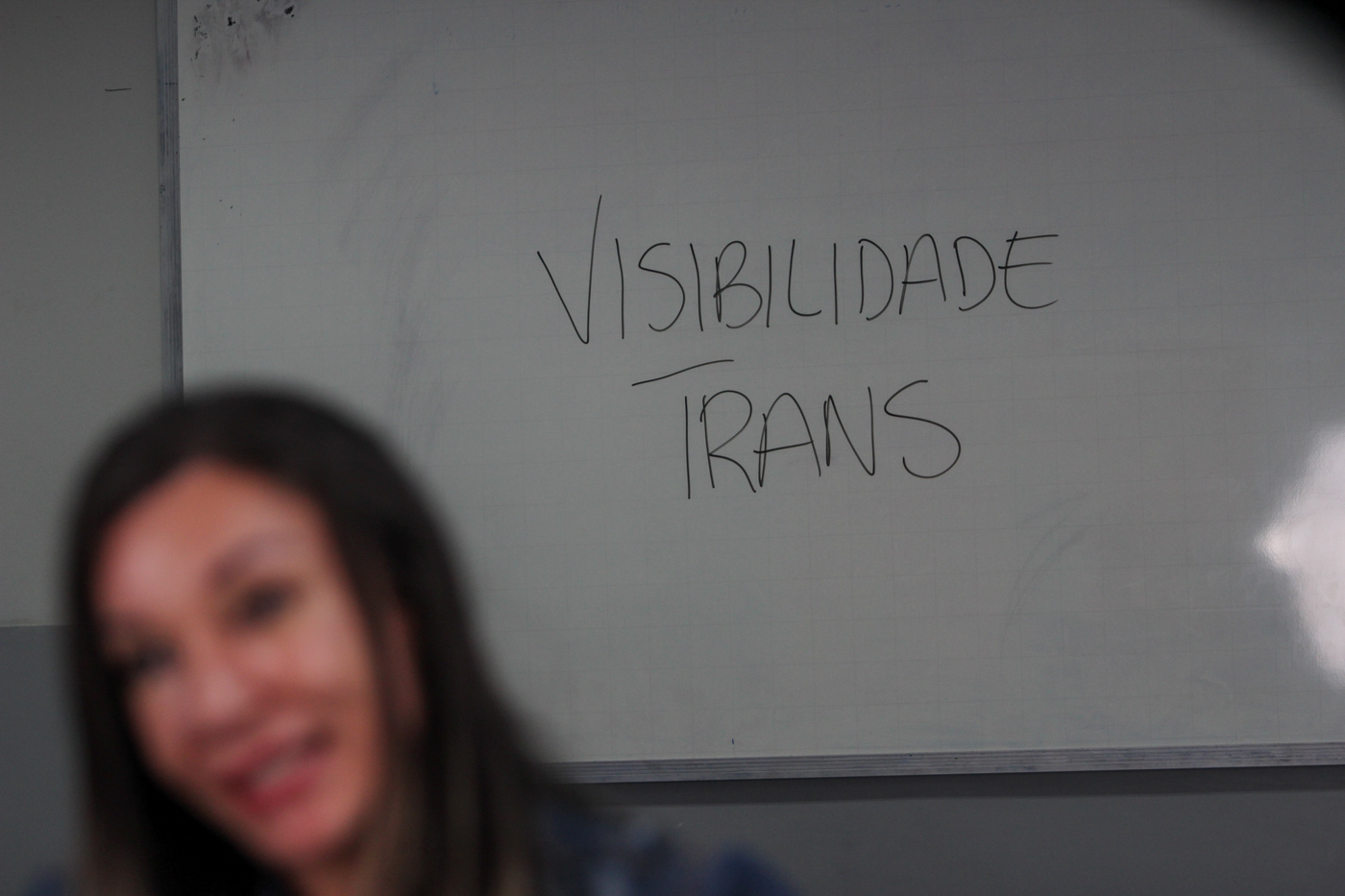“Eu sempre soube que a única forma de eu conquistar algo melhor para a minha sobrevivência e para a minha família seria buscar a educação. Eu tinha consciência disso. Por isso, eu lutava pela escola e resistia às violências da escola.”
Luma Andrade
46 anos.
Professora universitária e primeira travesti doutora do Brasil.
Nascimento: Morada Nova (CE).
Atuação: Fortaleza (CE) e Redenção (CE).
“Minha sobrevivência foi pela educação”
Num scarpin vermelho, Luma Andrade chegou. E vermelhos também eram os lábios dela, pintados de batom. Depois de uma hora de estrada tendo deixado Fortaleza, ela desembarcou na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), em Redenção, onde é professora concursada. Aliás, foi justo na sala na qual há cerca de dez anos ministrou a aula inaugural da carreira de primeira travesti doutora do Brasil na instituição que a entrevista aconteceu.
 Bloco 1, setor oeste, primeira porta à direita. Luma nos guiou numa tarde calorenta de segunda-feira na qual os cachorrinhos do campus Palmares estavam particularmente inquietos. Quase vazia àquele horário, a universidade implica na professora o que o nome representa. É território de segurança e sonho. Por isso, ela senta numa cadeira no meio da sala e, braços no ar, como num balé, narra a própria vida.
Bloco 1, setor oeste, primeira porta à direita. Luma nos guiou numa tarde calorenta de segunda-feira na qual os cachorrinhos do campus Palmares estavam particularmente inquietos. Quase vazia àquele horário, a universidade implica na professora o que o nome representa. É território de segurança e sonho. Por isso, ela senta numa cadeira no meio da sala e, braços no ar, como num balé, narra a própria vida.
Luma fez questão de a gravação acontecer na Unilab mesmo quando imprevistos forçaram, dias antes, a remarcação da entrevista e lhe foi proposta a possibilidade de o depoimento ser tomado num local que não demandasse tamanho deslocamento. Fez isso por conhecer o valor simbólico da imagem de uma travesti dentro de uma sala de aula. Porque esse ambiente, que deveria acolher todes, violenta e expele corpos como o dela.
De posse de seis formações (uma graduação, duas especializações, um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado), ela adota uma voz mansa para falar. Compassada. É didática, até na mais simples das explicações, como quem deseja ser compreendida já na primeira tentativa. Antes, porém, é uma boa ouvinte. Depura cada palavra que lhe é dirigida. Parece não querer falhar. Mas não por um desejo de perfeccionismos, embora essa seja característica comum a pessoas LGBTs. A sensação é de que Luma age dessa forma como quem oferece um acolhimento. Escuta, ampara, compreende e devolve. Mesmo – talvez exatamente por isso – quando o assunto é delicado ou doloroso.
Em quase uma hora e 40 minutos de entrevista, Luma não deixou perguntas sem respostas. Não pediu reservas. Não fez menção de restringir qualquer assunto, expediente habitual em reportagens desta envergadura. Ao contrário. Sequer titubeou. Nem ao falar sobre perseguições internas à Unilab, onde foi eleita diretora do Instituto de Humanidades, o maior da instituição, e não dispõe de servidor(es/as) para auxiliá-la nos afazeres diários. Como estava, permaneceu do início ao fim: pernas cruzadas, vestidinho ajustado na altura correta, olhar altivo, cabelos lisos e loiros sobre o busto, postura ereta, decote e pulseira com as cores da bandeira LGBT à mostra, e, ao fundo, no quadro branco no qual escreve lições aos alunos, o dizer: visibilidade.
A bem da verdade, houve um só pedido de Luma. Tão logo assentou-se no meio da sala, indagada sobre como deveríamos nos referir a ela, sentenciou: “sou travesti”. E falou como tal, na dimensão sociopolítica e identitária da travestilidade – mas, sobretudo, na potência de experienciá-la, de sê-la, na imensidão do universo do Magistério.
Confira a entrevista.
 DEFENSORIA: Quem é Luma Andrade?
DEFENSORIA: Quem é Luma Andrade?
LUMA: Eu venho de uma família de agricultores analfabetos. Eu nasci de uma segunda união entre meu pai e minha mãe, porque ele já tinha uma família. E, nesse sentido, eu já sofria o fato de ser “a criança da outra”. Vivia nas condições difíceis, de precariedade, de quem vivenciou a história de não ter acesso às condições financeiras necessárias para ter uma qualidade de vida melhor.
Uma das coisas que é ênfase na minha história, principalmente desde a infância, é a performatividade. A minha performatividade corporal. Como eu me portava dentro da sociedade. Sempre era motivo de chamar atenção, porque eu sempre tive uma performatividade corporal muito atrelada ao feminino, tradicionalmente. Isso me fazia muitas vezes até ser confundida com uma garota.
Quando eu saía com o meu pai ou quando eu saía com a minha mãe, as pessoas me tratavam como “a garota”. Eu tinha um cabelo um pouco maior, e isso também ajudava nessa identificação, porque minha mãe achava bonito o cabelo grande. Então, me colocava um pouco nessa condição e, devido à performatividade, eu era sempre enquadrada dentro de uma performatividade feminina. E quando se descobria que não era o esperado, principalmente constrangia muito o meu pai. Porque ele colocava: “não, não é minha filha; é meu filho.”
Isso me fez assumir uma identidade que, como criança, eu não sabia do que se tratava. Mas eu acabei reproduzindo aquilo que a sociedade ia me impondo. Que eu tinha que ter um certo comportamento, principalmente dentro de casa, que os pais passam a orientar. Ou seja: passamos por um processo pedagógico, disciplinar, no qual nós somos impostos a uma determinada forma de se comportar na sociedade. Os trejeitos, a forma de se colocar, o tom de voz, tudo isso passa a ser elemento de adestramento, como muito bem disse Foucault. Esse corpo passa a ser adestrado. E se não atende ao desejado passa a ser punido. Então, eu tive de sofrer punições do meu pai e da minha mãe, por conta desses comportamentos que não estavam de acordo com o esperado. Mas eu era uma criança. Eu não tinha conhecimento dessa realidade dos adultos. Eu não sabia que o mundo estava dividido dessa forma, nesse binarismo entre masculino e feminino; comportamentos e formas de ser.
Com o passar do tempo, eu fui percebendo isso. Ao chegar na escola, eu fui começando a perceber que tinha algo que não estava alinhado à expectativa das pessoas. Algo eu produzia que produzia um certo receio e uma certa reação negativa das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu ia tendo que me podar e não fazer isso ou aquilo. Mas o corpo falava. Tinha algo que eu não conseguia controlar, que era a minha performatividade, o meu jeito, os meus trejeitos, a minha forma de falar, a minha identificação com as meninas na hora de brincar…
Isso não significa dizer que pelo fato de eu ter essa performatividade, ter afinidade com as mulheres, que eu deveria me tornar uma pessoa travesti ou transexual. Era um momento de criança. E a criança não consegue identificar essas coisas. Ela vive diversas experiências. Apenas esse pensamento tradicional está presente no pensamento dos adultos, que quando olham pras crianças acham que tudo é de acordo com a mentalidade dos adultos. E a criança não tem essa mentalidade. Quando ela vê uma boneca, um carrinho, uma bola, ela vê uma novidade. Ela pode brincar com esses elementos sem ter nenhuma identificação com a sua sexualidade, até porque se trata de uma criança. Nós temos homens héteros que brincaram de boneca e em nenhum momento se posicionaram enquanto uma pessoa travesti. Por exemplo: eu brinquei de carrinho e de bola, e em nenhum momento isso me colocou dentro de uma condição masculina, porque a performatividade era feminina. Então, eu passei a me identificar com as mulheres, eu gostava da forma como as mulheres se portavam e eu me via daquela forma.
Nós vivemos vários momentos diferentes na nossa trajetória. Teve um momento em que eu tive que experienciar essa questão de ser o garoto. De ter que me defender enquanto um garoto. E, de repente, teve um momento em que eu passo a entender que eu era um garoto e era diferente. Eu era um garoto afeminado, a “Mariazinha”, a mariquinha. Eu começo a perceber que eu era um garoto, mas não era um garoto como os outros. Isso produz um certo impacto na vida da criança. E produziu na minha também, até o ponto de eu ser agredida por um colega na escola por estar brincando com as meninas. Cheguei na sala chorando e a professora colocou: “bem feito, quem mandou você ser assim?”. E eu era uma criança. Eu não sabia do que se tratava, o que ela estava dizendo. Mas eu sabia que tinha algo que não estava de acordo com a expectativa.
Daí, eu começo a perceber que eu não era aceita dentro do espaço masculino nem no espaço feminino. Eu não tinha um lugar, principalmente quando eu ia, por exemplo, para as necessidades fisiológicas. O banheiro. Quando eu ia para os meninos, os meninos me agrediam. Quando eu ia para o das meninas, ou as meninas não aceitavam ou a gestão da escola, professoras e professores, não aceitava a minha presença dentro daquele lugar. E aí, eu tinha que me conter, esperar a aula terminar pra poder urinar e, às vezes, com dores imensas, mas tendo que me segurar para estar naquele espaço. Então, enquanto a escola é um espaço tranquilo para outras crianças, na minha vivência de travesti, ela não era um espaço adequado. Inclusive numa experiência que não era ainda nem de travesti, mas de uma performatividade feminina.
 DEFENSORIA: O contexto interiorano foi um agravante pra sua discussão de identidade, de sexualidade e de se entender enquanto pessoa travesti?
DEFENSORIA: O contexto interiorano foi um agravante pra sua discussão de identidade, de sexualidade e de se entender enquanto pessoa travesti?
LUMA: A questão do preconceito no Interior se torna bem mais intensa porque você é um elemento da comunidade que é conhecido. Você é conhecido por todos e conhece todo mundo. Quando isso acontece, você passa a ser visado. Inclusive, a vizinhança passa a querer te controlar também. Não só os pais, a família, mas todo o contexto da sociedade presente passa a tentar produzir esse adestramento, desse enquadramento dentro dos padrões às normas tradicionais no que envolve a questão da sexualidade.
O Interior tem esses elementos até por conta das discussões das temáticas. As temáticas chegam, principalmente no passado, que eu vivenciei saindo do período da Ditadura Militar, e era muito difícil. Se era difícil nas grandes metrópoles, você imagine no Interior. Era uma discussão muito complexa. Daí a questão da violência e daí a fuga. Eu sempre buscava a fuga nos estudos e talvez isso tenha sido algo positivo para a minha vida. Porque como eu focava nos estudos, as cobranças que me faziam de “cadê a namorada?”, eu focava nos estudos, dizia que era momento de estudar e a minha mãe absorveu essa “desculpa”. Ela reproduzia isso de “não, não é o momento.”
Algo em torno dos meus 14 para 15 anos eu fui para um Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) em São Paulo e lá eu tive a oportunidade, fazendo parte do movimento estudantil, de ver pela primeira vez pessoas travestis nas ruas. Quando eu vejo aquelas pessoas, eu automaticamente me identifico. Porque eu nunca tinha visto uma pessoa travesti. Quando eu vi aquelas mulheres lindas nas esquinas, com vestidos belíssimos, bem sexy, isso me fez perceber que eu tinha algo em comum com elas. E eu voltei diferente dessa viagem. Porque eu passei a identificar que eu era como elas.
A partir daí, eu passei a deixar os cabelos crescerem. E começou o processo de modificação, inclusive de usar roupas femininas. Às vezes, me perguntavam por que eu estava deixando o cabelo crescer e eu dizia que era uma promessa. Ou seja: eu encontrava subsídios para poder justificar aquelas transformações que estavam ocorrendo. No Interior, nós não tínhamos acesso, naquela época principalmente, a substâncias farmacológicas que hoje existem e que na época existiam, mas nas grandes metrópoles, como os hormônios. Então, nós fazíamos o processo de transformação da forma que nós podíamos e respeitando as condições financeiras que se tinham. Deixava os cabelos crescerem, usava roupas femininas, tinha cuidado com os pelos… Era o que era acessível. Eram as tecnologias disponíveis para aquele lugar naquele momento histórico.
Eu passo a utilizar essas tecnologias e a sair para as festas e para o Ensino Médio, porque esse processo de transformação se inicia no final do Ensino Fundamental. Então, eu atravessei a escola vivenciando já o ser travesti. Não era algo da minha mente. Era algo que eu trazia no corpo. E é totalmente diferente. A forma como eu era tratada enquanto eu era identificada como um garoto gay ou uma “mariquinha” foi totalmente diferente quanto eu incorporei essa travestilidade, quando eu expus essa travestilidade. É de outra ordem. A forma como as pessoas te tratam é completamente diferente, porque passa a ser ainda maior o impacto.
Uma coisa é você se identificar como uma pessoa travesti, ter que controlar isso e não poder externar. É um outro tipo de sofrimento. Outra coisa é você externalizar essa travestilidade, assumir essa travestilidade publicamente. Porque as pessoas querem que você mantenha tudo isso em sigilo. Tudo bem você ter uma mente travesti, mas guarde isso pra você ou deixe em quatro paredes e não externe isso pra sociedade. Se você adota esse comportamento, a sociedade passa a te agraciar, digamos assim. Mas quando você vai para o enfrentamento ela passa a ter o comportamento do que a minha professora dizia: “é bem feito, quem manda você ser assim”. É como se fosse uma forma de punição por você ter transgredido as normas tradicionais estabelecidas dentro da sociedade.
DEFENSORIA: Só pra deixar bem estabelecido: esse tratamento é diferente para pior?
LUMA: Para pior. Porque você não vai manter as aparências do que a sociedade deseja. Você não vai externar aquilo que você é nos guetos. Você vai escancarar isso para qualquer lugar. Por isso que as vidas das travestis foram tão difíceis. Foram vidas precárias mesmo, porque não poderia se estar presente sequer nas ruas, principalmente no período da Ditadura Militar. Então, os corpos travestis que fossem pegos nas ruas eram detidos e enquadrados como vadiagem, um termo que ainda hoje existe. Por isso que as travestis passavam a ser pessoas de “sociabilidade” noturna, porque quando eram vistas durante o dia eram totalmente violentadas pela sociedade.
Eu vivenciei muito isso, dessa violência. De você passar e quem te via fazia aquele som de “pei, pei, pei, pei” contínuo, que significa os tiros. Qual é o desejo? É o desejo de matar. O que significava aquela comunicação verbalizada? Era o desejo de exterminar aquele corpo. Jogavam tomate, jogavam pedras, se tentava humilhar aquele corpo. Por isso que as travestis não conseguiam ter uma vida, principalmente no período da Ditadura, de ter uma vida como as demais pessoas, de irem à rua a qualquer hora, a qualquer momento. Inclusive os corpos afeminados, de homens afeminados, de gays afeminados.
Esses corpos eram totalmente evitados, porque existia o processo da violência. E isso contribuiu muito para que nós nos tornássemos pessoas excluídas da sociedade. O Estado fez isso conosco. Não só o Estado, mas a sociedade civil. Nós estávamos num período de Ditadura Militar, onde o governo da época não aceitava essas diferenças. E boa parte da sociedade civil comungava com essas ideias, haja vista que até, por exemplo, quando vamos ler o livro de James Green, que traz a trajetória de um dos gays que viveram naquela época, nos revela que a política entre direita e esquerda não aceitava as questões da população gay, que hoje nós entendemos como LGBTQIA+. Era um momento muito difícil, que mesmo a esquerda tinha dificuldade de se relacionar com essas diferenças. Então, era algo hegemônico mesmo. E o apoio que se tinha era de umas das outras.
 DEFENSORIA: Pelo o que a senhora diz, a escola foi um espaço muito mais de violência do que de acolhimento.
DEFENSORIA: Pelo o que a senhora diz, a escola foi um espaço muito mais de violência do que de acolhimento.
LUMA: Com certeza. Enquanto eu queria a escola, a escola não me queria. Enquanto esse corpo estar para poder sobreviver dentro dessa sociedade, essa sociedade usava o espaço escolar para me excluir. E para poder resistir a esse lugar, eu tive que acionar dispositivos, como, por exemplo, linhas de fuga, para poder sobreviver. Eu não podia utilizar o banheiro. Tudo bem, eu já sabia. Mas eu tinha que me impor dentro desse lugar de que eu não podia usar o banheiro. Eu tinha que me sujeitar a isso para poder estar naquele lugar. Porque se eu fosse resistência naquele momento, isso seria utilizado para me eliminar. A resistência no sentido de afrontar. Porque o próprio ato de se sujeitar, naquele momento, era uma forma de resistência. Era a única forma de resistência possível que eu tinha para me manter dentro do contexto da época.
Às vezes, as pessoas querem analisar o que eu vivenciei no passado com o que hoje nós temos na nossa realidade. E é completamente diferente. Hoje, se podem estabelecer outros dispositivos porque existem dispositivos legais. Antigamente, não se tinha isso. Antigamente, não se falava sobre essas questões. Imagina na escola! Então, a escola foi o lugar que mais chancelou a violência ao meu corpo. Eu não podia brincar a hora do intervalo, porque se eu saísse para brincar eu iria ser violentada porque eu iria brincar com as meninas. Eu não podia sair pra receber a merenda escolar. Para sobreviver naquele lugar, sabendo que eu não podia usufruir de todos os espaços como as demais pessoas, eu tive que me podar. Eu tive que criar uma outra dinâmica para a minha sobrevivência lá. Eu tinha que ficar dentro da sala de aula inventando que tava resolvendo os deveres de casa para não sair.
DEFENSORIA: Como foi virar professora e voltar para um ambiente que lhe ofereceu tanta violência?
LUMA: Eu sempre soube que a única forma de eu buscar algo melhor para a minha sobrevivência e para a minha família seria buscar a educação. Eu tinha consciência disso. Por isso, eu lutava pela escola. Eu resistia à escola. Eu me submetia a muitas coisas dentro daquele espaço porque eu sabia que era a minha única saída. Onde eu teria emprego? A família com dificuldade de me aceitar, a religião não aceita, a sociedade não aceita, então eu tinha que buscar a minha independência de uma outra forma. Até chegar ao ponto de que, quando minha mãe faleceu, eu fui expulsa de casa. Meu pai me expulsou de casa porque ele não me suportava. Suportou enquanto minha mãe era viva. Então, a família me colocou pra fora.
A escola não me queria. Eu não tinha outra alternativa senão tentar uma forma de resistência naquele lugar. Foi esse lugar que me deu a oportunidade de chegar aonde eu estou. E eu, ao chegar a esse espaço que eu estou, eu via ele com uma outra dinâmica dos outros colegas docentes, porque eu vinha com a experiência de ter vivido essa negação do lugar. E eu queria que as pessoas que estivessem na mesma condição que eu tinha tido ou similares não passassem por aquilo que eu passei. Eu tinha que fazer um trabalho diferente. Eu tinha que olhar a realidade de uma outra forma. E eu identificava vários estudantes LGBTQIA+. Eu tive salas que foram difíceis por conta que tinham alunos que queriam fazer dança e os outros não deixavam porque chamavam os meninos de gays e ficavam atrapalhando. Então, eu tive que intervir nisso.
Para eu iniciar o trabalho como professora, também não foi nada fácil. Quando eu consigo entrar como professora? Exatamente no período em que foi criada a lei que obrigava que só poderiam lecionar professores com ensino superior. E, na época, poucos professores e professoras tinham ensino superior. E eu tinha entrado na universidade. Quando eu termino o ensino médio, eu já sou aprovada e entro na universidade. E meu professor ainda não tinha terminado. Por exemplo: o professor de Física e Matemática foi meu colega de sala e eu, inclusive, terminei o curso primeiro do que ele.
Foi num momento chave. As coisas foram se encaixando. Quando sai essa lei, eu estou na universidade e eu sou chamada para lecionar por um outro professor. E ele passa a me vigiar. Ele sabia que eu tinha capacidade de assumir a sala, mas ele passa a me vigiar por conta de ser uma pessoa travesti. Ele ficava atrás da porta, ouvindo o que eu estava dizendo, como eu estava me comportando. E no primeiro dia de aula eu já me identificava. Explicava para aquelas pessoas aquela realidade. Dizia “eu sou uma pessoa, como vocês estão vendo, fora dos padrões”. Não existiam ainda esses termos que temos hoje. Mas eu passava para eles as informações e muitos deles se identificavam com aquilo.
Pelo fato de eu ter aberto a minha vida para eles, isso facilitou muito a empatia. Se eu tivesse escondido essa realidade, talvez a história tivesse sido outra. Porque eles poderiam estar se sentindo enganados. Quando eu chego e já digo tudo de cara, surpreendendo até a expectativa deles, isso quebra o paradigma. Porque quando eu ia para sala, muitos deles já vinham gritando “viado, viado, olha o viadinho”. E, quando eu entro na sala, eles já percebem a imposição de uma autoridade. Não de um autoritarismo. Mas uma autoridade que foi conquistada sendo sincera com eles, eles percebendo a minha dinâmica de trabalho, porque tinha uma ideia de que eu não ia saber ensinar por conta de todo o pensamento conservador e tradicional que se tinha. Mas eu tive a paciência de perceber isso e mostrar para eles e elas que essa não era a realidade, ao ponto de nós nos tornarmos muito próximos. De mães e pais quererem ir à escola só pra me conhecer, pra saber quem era essa pessoa que tava trabalhando numa perspectiva mais humana, que dialoga com a diferença dos filhos deles, de serem pessoas pobres, pessoas negras etc.
Vivenciar a negação nesses espaços me fez aprender algo que ninguém poderia ensinar. Eu aprendi vivendo. E eu consegui fazer essa vivência se tornar conhecimento a partir do momento em que eu chego no doutorado e eu levo a minha tese “Travestis nas escolas: assujeitamento e resistência à ordem normativa”, que era exatamente o que eu tinha vivenciado e que eu percebi que as minhas interlocutoras continuavam vivenciando. E essa produção serviu, por exemplo, para eu ser chamada no Conselho Federal de Educação e defender o nome social, que na época não existia. Eu levei a obra, fiz a defesa pessoalmente e todos os conselheiros e conselheiras aprovaram a partir da fala que eu pude estabelecer lá dentro, porque eu tinha contribuído, a partir da minha produção e da minha presença naquele espaço, para que esse direito fosse conquistado.
Vários outros dispositivos surgiram a partir desse livro. Porque é lá que eu falo sobre banheiro. Eu sou a primeira pessoa a falar sobre essas questões. E eu sofri muito com isso porque muitos intelectuais, sobretudo da universidade, não aceitavam que isso fosse considerado ciência ou saber relevante para a sociedade. Só muito tempo depois foi que se percebeu essa relevância. Não chegou nem a ser indicada ao Prêmio Capes de teses. Hoje, eu percebo outras intelectuais travestis que estão chegando na universidade e estão conseguindo ter suas obras com outro olhar, porque naquele momento e naquela época não se falava sobre essas questões. Esse livro, então, passa a ser um clássico, porque fala pela primeira vez sobre pessoas travestis num outro espaço que não a prostituição e num outro lugar que não só as grandes metrópoles, como as cidades pequenas. Por lá elas também existem e existem não da mesma forma como nas grandes metrópoles. Elas têm outras tecnologias de produção desses corpos travestis. Essa obra vai servir para identificar isso. E passa a ser essa referência.
 DEFENSORIA: Ano após ano, cada vez mais pessoas trans buscam a retificação de nome e gênero. Como se deu o seu processo, anos atrás?
DEFENSORIA: Ano após ano, cada vez mais pessoas trans buscam a retificação de nome e gênero. Como se deu o seu processo, anos atrás?
LUMA: Eu mudei o meu nome em 2010. Mas em torno de 2008, 2009, eu entro na Justiça com ação para mudança, porque eu não me identificava naquele nome. Aquele nome me causava constrangimento. Então, eu procurei a Justiça, entrei com um advogado e fiz a solicitação. Não foi nada fácil. Até porque demorou um tempo pra essa decisão sair, porque era algo inédito no Ceará.
Não se tinha ainda nenhum caso semelhante no estado. Tinha alguns fora, mas no nosso estado era a primeira situação que se chegava para o jurídico. E o juiz aguardou o dia 8 de março de 2010 para poder me entregar o parecer final. E ele fez questão de me conhecer. Me convidou e disse: “a partir de hoje, no Dia Internacional da Mulher, você tem o seu nome reconhecido”. Ele me deu esse direito e eu fiz a mudança nos documentos.
Foi algo muito importante pra minha vida, mas eu tive que levar testemunhas, crachá do trabalho de como eu era identificada, tive que levar pessoas que comprovassem que eu me identificava como Luma e não com outro nome… Foi um momento de muita luta, mas que teve a vitória.
DEFENSORIA: Neste período, a senhora já era professora do Estado?
LUMA: Era. A mudança do meu nome aconteceu quando eu estava em Russas, onde eu trabalhava na 10ª Crede [Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, uma célula da Secretaria Estadual da Educação (Seduc)], mas que, é importante que se diga, quando eu fui na escola assumir a vaga que tinha conquistado tirando primeiro lugar no concurso, o diretor disse que não tinha vaga. Eram três vagas e só tinha passado eu, mas a resposta era que não tinha vaga.
Precisei denunciar pra Crede e a coordenadora teve que enviar um funcionário pra fazer a minha lotação porque o diretor não queria. Engraçado que era uma escola que eu já estava lecionando como temporária, porque foi quando eu fazia o mestrado em Mossoró e me deslocava para Aracati, e eu estava trabalhando lá como temporária. Mas até quando cheguei como temporária o diretor também não quis me receber. Quando eu disse “vou ser professora do laboratório daqui”, ele disse: “mas não era de dança?”. Ao me ver, aquela pessoa travesti, ele pensou que poderia ser algo à performance. E eu disse: “não, eu não sou professora de dança; eu sou professora de Biologia”. E sempre foi uma relação muito difícil nesse período porque ele não me queria na escola.
Interessante também era que quando eu ia receber a minha lotação eu era a última. Porque ele tentava colocar pessoas até de outras disciplinas para lecionar a disciplina que seria a minha. Colocava professor de Português para lecionar Biologia. Todo mundo era lotado e eu ficava com o resto, se tivesse alguma coisa. E, ainda nessa escola, outra precariedade foi que quando eu estava próxima de concluir o estágio probatório eu coloquei a prótese de silicone nos seios. Já prevendo que poderia dar algum problema, eu passei a usar uma bata para poder cobrir mais os seios. Chegou uma denúncia na Seduc dizendo que eu estava mostrando os seios aos alunos. Eu tive que ir pra Seduc me defender. Mostrei a documentação e de imediato a comissão percebeu que se tratava de um caso de preconceito. Voltei e não tive mais problema. Mas nesse período eu pensei em largar tudo e me prostituir. Porque foi um momento muito difícil, de uma perseguição muito forte. E eu até comecei a me prostituir. Porque eu vi que não ia ter mais nada. Eu pensei que eles iam conseguir e eu tinha que buscar outra alternativa. E pra travesti não tinha outra opção naquela época. A opção era se prostituir mesmo. E, aí, eu iniciei. Comecei a frequentar um curso de língua italiana, porque eu tinha uma amiga que estava na Itália e dizia: “para de sofrer, larga isso daí e vem pra cá.”
Como essa comissão reconheceu que eu estava certa e eu estava no mestrado, eu decidi continuar. Logo em seguida, passei numa seleção pra assumir um cargo de gestão na Crede 10 em Russas, onde eu passei a morar. Fui gestora dos gestores das escolas. Foi um lugar muito difícil também, porque tinham gestores que tinham dificuldade de entender que eu, hierarquicamente, tinha assumido um posto superior e eles teriam que, de certa forma, seguir alguém com quem às vezes eles não concordavam em termos de crenças, de preconceitos. Mas nós fomos diminuindo essas diferenças a partir dos diálogos, dos encontros, na ida às escolas. Sofri muito preconceito, mas isso ajudou a ensinar a essas pessoas a superar o preconceito.
Teve uma escola em que fui recebida como gestora, todo aquele evento, e quando eu entrei na quadra os estudantes gritaram “viado, viado”. Foi ensurdecedor. Mas, ao mesmo tempo em que eu sofri o impacto, eu vi a necessidade de estar naquele lugar. E, na hora da minha fala, eu fiz uma fala desconstrutora, sem ofender ninguém e eu passei a ser aplaudida. E, no final, eles iam me abraçar. Eu conseguia transformar preconceito em empatia a partir do momento em que eu era escutada, que era ouvida, que quebrava aqueles paradigmas que estavam postos para eles e para elas. Eles apenas reproduziam aquilo que eles ouviam. Então, isso foi muito positivo. Assim como foi positivo ocupar esse espaço de ouvir denúncias de pessoas LGBT, travestis, pessoas gays, afeminados que não estavam sendo respeitados por professores e por gestores.
Eu já cheguei a ser chamada na escola porque a gestão tinha chamado uma mãe pra dizer que o filho era gay e que ela desse um jeito. E qual foi o jeito que a mãe encontrou? Espancando o aluno. E o aluno depois me procurou e disse que ele era só o primeiro de uma lista que o diretor estava chamando. Quando eu soube dessa situação, fui até a escola e comecei a fazer um trabalho com a gestão e professores. Porque não era papel da escola fazer aquilo. Identificar. Como você identifica que uma criança ou adolescente é gay? As pessoas que têm que se autonomear alguma coisa, que têm que se identificar por alguma coisa. Eu percebia que as pessoas identificavam as outras e ainda buscavam uma forma de puni-las daquilo que elas achavam que elas eram. É muito complexo. Eu tive que atuar e isso inibiu várias outras ações.
É por isso que nós temos que ocupar esses espaços. É difícil ocupar esses espaços. Não foi fácil chegar à Unilab como professora. Não é fácil chegar ao cargo que estou atualmente, de diretora [do Instituto de Humanidades]. É uma luta constante, porque muita gente não aceita. Eu tenho várias tentativas de boicote a partir do momento em que eu assumi a direção, inclusive com processos administrativos absurdos. E isso vem por que logo quando eu assumo? Porque é insuportável pra muita gente ter como chefia imediata uma pessoa travesti e transexual, e vão tentar encontrar subterfúgios para tentar me agredir, para tentar me desqualificar, para tentar me tirar desse lugar. Isso aconteceu na minha trajetória toda da vida. Me parece normal não ser bem-vinda. Mas não ser bem-vinda não pode ser motivo para nós pararmos. Ao contrário. Tem que ser motivo para buscarmos forças onde não temos, com pessoas que poderão se juntar a nós para nos dar forças e superar essas condições.
A solidariedade de muitos colegas é fundamental para poder superar tudo isso. Sozinha não se consegue nada. Eu não cheguei aqui sozinha. Eu cheguei aqui também com a solidariedade de muitas pessoas que, inclusive, não são LGBT. Muitas são, outras não são. Porque muitas pessoas conseguem perceber tudo isso que está acontecendo. Não é fácil estar nesse lugar. É sempre um lugar de disputa. É sempre um lugar onde você tem que demonstrar o tempo todo que você é capaz, mesmo quando criam situações para dizer que você é incapaz e inventam estratégias para poder lhe desqualificar.
 DEFENSORIA: Quando a senhora chega ao mestrado, em Mossoró, qual cenário encontra? A pós-graduação é um espaço extremamente seletivo… Como a senhora lida com essa universidade?
DEFENSORIA: Quando a senhora chega ao mestrado, em Mossoró, qual cenário encontra? A pós-graduação é um espaço extremamente seletivo… Como a senhora lida com essa universidade?
LUMA: É uma longa história até chegar ao mestrado, porque não foi nada fácil. Eu já estava lecionando em Morada Nova, onde eu nasci. Eu fui fazer o mestrado por conta de uma amiga que me convidou pra ir como companhia dela. Ela jamais pensou que eu pudesse passar, assim como os outros professores, que tinham sido meus professores e passaram a ser meus colegas, jamais pensaram que eu poderia passar. Existia um grupo que ia fazer esse mestrado, um grupo de professores que tinha lotado uma van para levá-los até a Uern [Universidade Estadual do Rio Grande do Norte] para fazer a avaliação. Eles tinham um material de estudo, eu tentei pegar esse material e eles me negaram acessar esse material, como também negaram que eu e minha amiga fôssemos na van com eles.
Fizemos a avaliação. Na primeira fase, só passamos eu e ela. Nenhum dos outros passou. Foi um impacto grande. E quem entrou na vaga foi só eu. E isso foi muito difícil pra minha amiga, mas pra mim também com certeza, porque eu não tinha esperança de conseguir. Mas consegui. Passei pelo processo final e entrei na Uern, que ficava numa cidade maior do que a que eu morava, mas eu também sofri dificuldades. A primeira foi de se manter e de onde ficar. Eu passei os primeiros dias, para poder estudar, num espaço da associação dos professores da Uern. Minha alimentação era, todos os dias, pão com mortadela crua. Todos os dias. Até que eu passei a me deslocar por conta de um trabalho em Aracati. Depois, passei a morar em Aracati, me deslocava e fiquei alojada na Apeoc, que era a sede da associação dos professores do estado do ceará, da educação básica. Eu era filiada e passei a morar nesse lugar. Mas também fui expulsa desse lugar. Ocorreram comentários de que eu não estava respeitando os ambientes. Agora claro…o meu corpo não respeitava ambiente nenhum. A minha presença não respeitava esses ambientes tradicionais, esses ambientes conservadores. A Apeoc me direcionou para uma pousada, onde eu fiquei um tempo até eu ser expulsa. Eu não era bem-vinda ali. Eu tive que buscar estratégias. E eu ia fazer esse deslocamento, indo e vindo de Aracati pra Mossoró. Um minutinho que eu chegasse atrasada na escola, o diretor me chamava, tentava me humilhar… Eu percebia isso. Posteriormente, antes de eu sair para a Crede, ele se tornou um amigo, me pediu desculpas pelo o que tinha feito, porque ele sabia o que tinha feito.
Eu não sei se o fato de eu ir para a Crede, um espaço de hierarquia superior, gerou esse reconhecimento, porque na cidade as pessoas jamais esperavam que eu fosse ser aprovada num concurso. Foi um escândalo na cidade de Aracati. Lá em Mossoró, também era um estranhamento esse corpo diferente ocupar esse espaço do mestrado. O único lugar que eu encontrei pra poder ficar foi um cabaré de uma amiga travesti, porque eu não podia ficar muito tempo na associação. Eu não me prostitui naquele ambiente, mas foi o lugar que me acolheu, Por isso que eu não posso olhar para quem está na prostituição com preconceito: porque foram elas, as prostitutas, que me acolheram. E as que faziam programa eram pessoas travestis. Falo isso pra você ter ideia de quem consegue dar suporte: é exatamente quem vive esse espaço de negação.
Eu não tenho vergonha de dizer que eu me prostituí. Eu me prostituí! Eu não tenho vergonha de dizer, se for pra dizer, que minha mãe não era casada com meu pai e era considerada a puta. E que eu era a filha da puta, que depois se tornou puta também. É um espaço de negação. Até no sentido de dizer que eu não teria direito a alguma herança por ser “filha da puta”. Então, tem todo esse contexto de aproximação dos lugares que me acolhiam e dos lugares que não me acolhiam. Onde eu era acolhida? Nos lugares que sofriam a negação. E em quais espaços eu não era acolhida? Eram exatamente os espaços disciplinadores do Estado e da sociedade. E em Mossoró não era diferente. Quando você vai pra capital, também não é diferente. Quem vai lhe acolher?
DEFENSORIA: Como foi virar professora universitária?
LUMA: O boom da minha história começa quando eu entro no doutorado. Só depois é que eu fiquei sabendo que houve uma guerra na comissão que estava avaliando. Quando eu entrei na sala, eles ficaram assustados com aquela presença. Eu entrei e fiquei super constrangida, porque eles não falavam nada; ficavam olhando pra mim como se eu fosse um ET, uma coisa fora do normal. Até que, de repente, iniciam.
Posteriormente, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que aquilo gerou uma confusão interna muito grande porque eles não queriam aceitar o projeto. Muitos deles não viam como algo relevante, algo científico. E, pra minha sorte, existiam pessoas que tinham lidado com a filosofia da diferença, entre eles o professor Gerardo Vasconcelos e o professor Daniel Lins. Eram pessoas que estavam totalmente alinhadas com essa epistemologia da diferença. Quando viram aquilo, perceberam a potência que poderia existir. Avaliaram o projeto, fizeram as críticas, mas a confusão foi quando eu saí. Um não queria me aceitar, outro queria, aquela coisa toda. Mas eu entrei na universidade. E o fato de eu ser a primeira travesti doutora do Brasil foi um impacto muito forte. A primeira a conseguir esse lugar. Então, matérias na Folha de São Paulo, de nível nacional, vieram à tona, pois eu era o primeiro caso. Apenas em 2009 e eu chego ao final em 2012. Então, isso é um boom. Porque ninguém imaginava, dentro dos padrões tradicionais, que uma travesti pudesse ocupar esse espaço.
Atravessar o doutorado foi muito difícil, porque era o tempo todo colegas questionando a minha forma de ser. Não era nem o conteúdo do que eu trazia. Era a minha forma de se portar. E eu tive, muitas vezes, que externar o que eu pensava de forma muito dura. Eram professores colocando que não era nada demais ser a primeira travesti, tornando isso algo comum, quando eu era a primeira e isso falava muito por si. Por que só em 2012 uma travesti conclui um doutorado? Isso fala muito mais do processo de negação histórica, da negação do Estado, da sociedade, da dívida histórica que esse país tem com as pessoas LGBTQIA+, em especial com as travestis, transexuais, homens e mulheres trans. É uma dívida histórica porque nos negaram os espaços, principalmente na Ditadura, quando não aceitavam nossa presença nos lugares. Ora, não aceitavam nas ruas, imagine nas escolas! Como que esses corpos iriam estar nas escolas? Teve decreto em São Paulo que proibia a nossa presença, principalmente na década de 1980, com o advento da aids. O Estado tem uma dívida conosco.
Então, eu volto a ocupar um espaço, porque antes eu já estava na Crede, já tinha passado pela educação básica, mas voltar a ocupar um espaço hierarquicamente importante, mas no ensino superior, foi empoderador. Empoderador porque eu chegava naquele lugar com outro olhar, com uma outra epistemologia. E eu sentia a necessidade de fazer as mudanças que eram necessárias. Mas, quando eu passo pela seleção, pelo concurso, ali não bastou passar. Posteriormente, eu soube que foram investigar minha vida antes de me nomearem. E, aí, eu perguntei por que só eu fui investigada e os colegas que passaram comigo não foram. Isso já fala muito. Já começa na entrada, né? Quer dizer que se encontrassem algo na minha vida não iriam me dar posse? Como seria?
Eu cheguei nesse espaço e outra questão que eu tinha vivenciado na educação básica também vivenciada na universidade, por colegas que perguntavam: “e aí, ela vai usar qual banheiro?”. Situações bobas, que não eram pra estar acontecendo, mas que aconteciam. O fato de, por exemplo, eu direcionar bolsas de projetos de extensão para estudantes LGBTs, em especial para travestis, transexuais, homens trans e mulheres trans foi pauta de colegas. Diziam que eu privilegiava essa população e eu respondia questionando quantas bolsas para essas pessoas os colegas haviam liberado? E esses colegas ficavam calados porque em nenhum momento deram bolsas para um LGBT, negro, travesti ou trans. Porque os alunos precisam. Além de ser importante para o currículo, essas pessoas em vulnerabilidade extrema precisam se manter na universidade. Porque não é fácil se manter na universidade. Porque parte desses estudantes vêm de outras cidades, outros estados e até de outros países, e chegam aqui sem nenhum suporte e às vezes a família não tem condições financeiras. É uma situação precária, principalmente para as pessoas travestis e transexuais, porque o próprio pertencer impede as pessoas de terem solidariedade. Até pra dar esmola é difícil dar para pessoas LGBTQIA+, por conta do preconceito. Ora, se até pra enterrar um corpo, às vezes, nem a família quer enterrar! Imagine dar alguma ajuda! Então, é muito difícil essas populações vulneráveis sobreviverem dentro da universidade.
Pode até ter agora as políticas afirmativas de cotas, mas antes não tinha. E não basta só o acesso, porque essas pessoas vivem em condições precárias de sobrevivência e necessitam de um suporte do Estado. Então, qual foi a única forma que eu encontrei quando eu entrei na universidade? Eu não posso deixar passar nenhum projeto de pesquisa e extensão porque eu sei que tenho que conseguir bolsa pelo menos para uma ou duas pessoas dessa população. Pra mim, é um compromisso que tenho que ter. Eu só não consigo quando o projeto é rejeitado. Vocês não sabem a alegria desses jovens quando a gente diz que tem uma bolsa. É emocionante você ver alguém que tá vendo a hora sair da universidade e, de repente, vê uma saída. É gratificante, porque é como se fosse eu. E eu sei o que eu passei porque, na minha época, eu não tive acesso a nenhuma política. E hoje, o pouco que tem, é insuficiente. Nós precisamos implementar mais essas políticas de permanência, principalmente pras pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí, o que acontece? Nós percebemos, às vezes, pessoas que sempre receberam bolsas. Sempre foram privilegiadas em receber bolsas. Então, quando eu tenho a oportunidade de ter uma bolsa, eu vou destinar para aquela pessoa que não está dentro dessa classe que nasceu privilegiada, que socialmente traz os signos do privilégio, que tem acesso a tudo. Isso, os outros professores já vão fazer. Eu não posso fazer o mesmo.
Eu fui a primeira professora a entrar no curso de Pedagogia. Fui, inclusive, fundadora dos PPCs [Projeto Pedagógico de Curso]. Sou a decana do curso. Qual foi o meu primeiro trabalho? Pude colocar as minhas ideias, trazer aquilo que eu tinha produzido na minha obra para dizer que nós precisamos formar professores e professoras que saibam lidar com as diferenças. Nós temos que ter um PPC disciplinas que atendam a essas questões. E nós, da Unilab, fomos uma das primeiras universidades do Brasil, principalmente no curso de Pedagogia, a ter no PPC a questão do gênero e da sexualidade como disciplina obrigatória. Os colegas queriam que fosse como optativa. Em outras universidades, existia como optativa. Mas o que é optativa? Faz quem quer. Nós não queremos formar profissionais que não saibam lidar com essa diferença. Se não queremos assim, temos que ter no PPC disciplinas obrigatórias que contemplem essas questões.
 DEFENSORIA: Como a senhora define a metodologia que a senhora aplica em sala de aula? Quais epistemologias a senhora traz?
DEFENSORIA: Como a senhora define a metodologia que a senhora aplica em sala de aula? Quais epistemologias a senhora traz?
LUMA: Dos saberes de vivência que se tornaram, posteriormente, ciência através das obras, dos artigos publicados, dos capítulos de livros produzidos. E também com as novas produções que estamos tendo hoje com a filosofia da diferença. Com novas pesquisadoras e pesquisadores que trabalham com essas questões. Temos Megg Rayara, temos Letícia Nascimento, Jaqueline Gomes de Jesus, intelectuais travestis que surgem e trazem mais olhares diversos, suas diferenças, suas especificidades. Isso vai contribuindo cada vez mais com a nossa dinâmica de trabalho. Eu não posso me colocar como a única, partindo da minha produção para desenvolver meu trabalho. Tem outras produções que se somam e quem nós vamos colocar para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, que são o tripé da universidade. Isso tudo junto vai produzir transformações fundamentais.
Nós temos aqui na Unilab estudantes estrangeiros, que vêm do continente africano. Muitos deles não tiveram a oportunidade de viver com essa diferença que nós temos no Brasil, principalmente a diversidade sexual. Para eles, ter uma docente travesti é muito significativo. Porque quebra muito do que se tem de compreensão tradicional e conservadora. Eu tive vários impactos, não só com os estrangeiros mas também com os brasileiros. Isso é um momento muito importante. Isso transforma as pessoas. A partir do momento em que esses saberes entram para o ensino em disciplinas específicas obrigatórias, quando entra em pesquisas pra tentar compreender melhor qual a sociabilidade dessas pessoas e o que envolve essas diferenças, quando temos trabalhos de extensão que vão até as comunidades e ajudam essas populações a desenvolver saberes, isso é algo enriquecedor e que modifica toda a dinâmica.
Obviamente, nós vamos ter pessoas que vão ser contrárias a isso. Porque são pessoas que têm o olhar ainda muito preconceituoso, mesmo sendo, muitas vezes, doutores e doutoras. Existe uma questão de crença que vai atravessar tudo isso. E o fato de você ser doutor ou ser doutora não significa que você tem conhecimento sobre tudo. Nós temos atrocidades de doutoras e doutores que nunca produziram algo sobre diversidade e que tentam ministrar uma aula sobre diversidade e fazem um desserviço para a população, como uma vez um docente ter desrespeitado um discente trans, um homem trans, e ter usado a aula pra produzir a violência. Nós não podemos entender que o fato de a pessoa ser doutora dá a ela o direito de falar sobre tudo. É alguém que necessita ter saber sobre aquilo que vai falar. Qual trabalho dessa pessoa vai somar? Porque, se não, vai ser um desserviço. Nosso trabalho vem dentro dessa questão.
Eu não ministro só disciplinas que envolvem questões de gênero e sexualidade. Eu ministro outras disciplinas porque fazem parte da minha formação, como fundamentos em gestão da educação e estágio em gestão da educação, porque eu tenho formação e experiência como gestora da gestão. A gente tem outras potencialidades. Mas a gente atravessa esses saberes com a perspectiva também da diferença. E isso é uma outra epistemologia. É uma outra aula. Dependendo da formação da pessoa, você pode ter uma aula totalmente diferente.
DEFENSORIA: A senhora é um corpo dissidente numa instituição dissidente e cujo corpo discente dessa instituição também é dissidente por ser majoritariamente negro e com muitos alunos vindos de África. Onde essas diferenças todas se encontram em sala de aula?
LUMA: É um lugar de exclusão. Mesmo sendo um ambiente que está fincado na filosofia da diferença e era pra desenvolver essa filosofia da diferença, ainda existem corpos que relutam a essas diferenças. Como diria Foucault, é uma relação de forças. Não existe esse espaço que seja hegemônico em termos de universidade que todos vão aceitar as diferenças. Nós vivemos nesse embate constante, inclusive de atrito entre diferenças. A falta de se perceber que essas pessoas, apesar de suas diferenças, têm algo em comum, que é o processo de exclusão histórica fruto da colonização, como é a questão do lugar da mulher, a questão da satanização das práticas homoafetivas da população LGBT, a questão do negro, a questão do pobre.
Isso tudo, nesse contexto multicultural que é a universidade, em especial a Unilab, nos faz perceber que temos essa linha de resistência, temos relações de forças, mas temos algo em comum, que é esse espaço de exclusão, de lugar ainda marginal. Isso é muito explícito pela forma que estamos ocupando esse lugar. Nós ocupamos esse lugar. Esse lugar foi pensado para nós. Mas como se manter nesse lugar? Quais foram as políticas produzidas para essas pessoas, que não foram pensadas para a universidade, se manterem na universidade? Neste lugar, nós nos encontramos. Você não está, ele não está, o outro não está e por que nós não estamos? Esse momento em que chegamos na universidade e ela está mais fragilizada. E não é por acaso. E não foi fragilizada antes, quando era ocupada hegemônicamente pelos filhos e filhas da elite da sociedade. Por que não foi? porque atendia aos interesses dessa elite.
Nós temos que perceber que nós estamos nesse mesmo lugar: o lugar de negação. O lugar do não privilégio. Percebendo isso, é o ponto comum entre nós. É o ponto de não ter espaço, de não ser ouvido. Aqui a gente se encontra. E as lutas passam a ser mais compartilhadas. Acho que é isso o que temos conseguido na Unilab com os povos indígenas, com os povos quilombolas, com os estudantes internacionais, com os povos negros, com as mulheres. Isso tem nos unido muito. Perceber que nós estamos num lugar de exclusão.
 DEFENSORIA: A tese de doutorado da senhora virou livro. E nele é trazida vivência que a senhora teve na escola. Depois disso, a senhora viveu vários outros episódios tanto do discriminação quanto de superação. Tem algo em mente, algum novo livro pra aprofundar essa história?
DEFENSORIA: A tese de doutorado da senhora virou livro. E nele é trazida vivência que a senhora teve na escola. Depois disso, a senhora viveu vários outros episódios tanto do discriminação quanto de superação. Tem algo em mente, algum novo livro pra aprofundar essa história?
LUMA: Eu fiz pós-doutorado em Lisboa. Eu passei um ano e foi justamente o ano da pandemia. Eu cheguei no início da pandemia. E meu projeto de pesquisa lá era com as travestis e transexuais que vivem em Portugal. Eu fui às ruas e encontrei várias travestis e transexuais ou em rua ou em abrigo. Fiz várias entrevistas e consegui muito mais do que eu imaginava, porque lá eu encontrei travestis e transexuais brasileiras, portuguesas de Portugal e africanas. Eu encontrei uma diversidade. E a forma como essas pessoas eram tratadas em Portugal. Minha próxima obra tem a intenção de trazer essa realidade desses corpos travestis e transexuais vivendo na Europa, às vezes em busca de uma melhor condição de vida, mas que sofrem muitas das represálias que sofriam em seus países, não da mesma forma. Assim como a imagem de passado de que travestis e transexuais europeias não sofrem preconceito é totalmente equivocada, porque eu encontrei realidades semelhantes às que nós vivemos no Brasil.
DEFENSORIA: O choque cultural se encontra nesse material?
LUMA: Com certeza. Os termos utilizados para a diferença são importantes. Importante também foi quando eu me aproximei da história de Gisberta, que foi assassinada em Porto de uma forma terrível. Ela era brasileira. E a outra, que foi aluna e foi assassinada em Lisboa. Era aluna e travesti. Essas histórias me marcaram muito e eu sinto a necessidade de produzir algo, principalmente porque foi de um período de pandemia, onde nem os movimento sociais da Europa, em especial de Portugal, percebiam que poderiam ter pessoas travestis e transexuais europeias nas ruas sem ter nenhum suporte. E eu consegui trazer isso à tona. Foi matéria de jornais. Saiu na tevê portuguesa. Foi um trabalho árduo, mas que trouxe um resultado muito positivo. Consegui visitar os abrigos e registrar o tratamento que essas pessoas estavam tendo. Eu consegui mostrar o quanto de desrespeito essas pessoas estavam passando. E na Europa, mesmo algumas sendo portuguesas. O nome social não era respeitado, onde elas ficavam não poderia ser nem na ala masculina nem na área feminina e sim na área de casais, o que dificultava a relação com outros habitantes que estavam no local. A questão do uso dos banheiros foi o mais chocante, porque eles tomavam banho todos juntos. Para as mulheres: todas as mulheres juntas. Para os homens: todos os homens juntos. E nós tínhamos travestis que se negavam a tomar banho. Porque como é que iam tomar banho? Era todo mundo nu. Isso foi muito constrangedor.
Eu fui convidada pela Câmara de Lisboa a fazer um trabalho de formação com as pessoas que estavam trabalhando com essa diversidade dentro dos abrigos. E consegui demonstrar o que eu tinha visto, e que não era positivo, e que tinha que encontrar uma forma de mudar essa realidade. Aí, as instituições passaram a ouvir o que eu tinha pra falar, acionaram o Estado e ocorreu uma mudança. Deram maior dignidade a essas pessoas.
DEFENSORIA: Anos atrás, o nome da senhora foi cogitado pra ser reitora da Unilab. O ministro da Educação à época era o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, mas isso acabou não se concretizando. Como a senhora avalia esse episódio? E mais: o universo acadêmico está preparado para ter uma reitora travesti?
LUMA: Na época, eu estava no interior do Estado. Foi na época em que Nilma Lino Gomes assumiu o ministério, ou algo similar ao ministério, das questões raciais. E eu recebi a ligação de um aluno, um homem trans, que me perguntou se eu aceitaria ser reitora da Unilab. Eu achei estranho. Não estava sabendo do que estava acontecendo. Eu estava no Interior, desligada de tudo. E disse: “por que não? Eu sou professora igual aos outros. Os requisitos são: ser doutora e professora. Eu tenho os dois quesitos. Então, estamos aí pro que der e vier”. E só depois eu soube que a Nilma tinha saído [da Reitoria da Unilab].
Esse homem trans fez uma divulgação dessa situação, colocando: “por que não a Luma?”. Os estudantes chegaram junto e começaram a fazer um movimento que se tornou um movimento imenso, que saiu até em Paris. Escreveram até artigo dizendo que o Brasil estava tão avançado que até poderia ter uma reitora travesti. Que a França não tinha tido. Esse movimento chegou até mim pela imprensa, que me perguntou se eu era candidata. Eu disse que não, porque não dependia do meu querer. Era por indicação do Governo. Eu apenas dizia que não era o fato de eu ser travesti que iria me impedir de estar naquele lugar. Mas também não poderia ser o fato de ser travesti que eu não tenha que ocupar. Essa era uma questão que eu colocava de maneira muito forte, porque eu tinha experiência em gestão. Então, a única coisa que me impedia, ou que podia me impedir, era o fato de ser uma travesti. Mas eu não poderia cair nessa. Foi muito difícil pra mim na época. Porque as pessoas me desqualificavam não pelo meu currículo, mas pelo fato de eu ser travesti.
“Uma travesti vai fazer o que na Reitoria?”. Como se eu fosse fazer um prostíbulo na Reitoria. Era essa a visão que se tinha. Mesmo sendo um governo de esquerda mais aberto à questão das diferenças, ainda tinha sequelas da esquerda que não aceitava a diferença. E hoje ainda temos uma ala que aceita e outra que não respeita. Em todos os espaços nós vamos encontrar isso. E eu entendo que o fato de eu não ter sido indicada pesou em relação a essa minha diferença. Isso plenamente pesou. E o governo não teve peito de enfrentar e assumir a responsabilidade de ter uma pessoa travesti ocupando esse espaço. Era muito difícil pra mim dizer que não aceitaria. Porque se eu dissesse que não aceitaria, eu seria uma decepção pra mim mesma e pras pessoas que me viam como alguém possível de ocupar esse espaço e representar toda uma comunidade que nunca teve acesso a esse lugar e não tem até hoje, porque é difícil ter. Ser eleita pra diretora de Humanidades está sendo difícil, porque tem pessoas que não aceitam… Mas eu não vou deixar de ocupar nenhum espaço por conta do que os outros pensam sobre mim.
Se eu vejo que tenho capacidade, disponibilidade e apoio pra enfrentar tudo isso, eu ocupo qualquer espaço dentro da universidade. Não importa se é lecionando as disciplinas em sala, orientando pesquisa ou extensão ou em qualquer cargo de gestão. Eu tenho a capacidade, como percebo que tenho e por isso cheguei onde estou, eu sigo em frente. Porque eu ouvi o tempo todo dizer que eu não era capaz de chegar em nenhum lugar. E veja onde estou. Continuo ouvindo isso e continuam trabalhando pra eu não chegar em lugar nenhum onde eu cheguei. Mas eu vou além. Porque é possível. E porque a nossa comunidade precisa desses empoderamentos e de ser representada. Por que somente as pessoas chanceladas com signos de privilégio devem ocupar esse lugar? Pra essas pessoas ter essas pessoas com essas diferenças ocupando esses espaços é inaceitável. Por isso que existe todo um trabalho contrário, porque elas não suportam a nossa presença nesses lugares.

DEFENSORIA: Respondendo às pessoas que duvidaram da senhora, o que uma travesti faria na Reitoria?
LUMA: Em primeiro lugar, ter um olhar humanizado sobre as pessoas que trabalham na instituição. As pessoas que nós acolhemos na instituição, como os terceirizados, como os técnicos, os professores e professoras e os discentes e as discentes, tendo um olhar sobre as diferenças. É um olhar totalmente diferente porque vai ser uma outra prática. A minha prática como professora não é a mesma prática de alguém que teve os privilégios dados socialmente. A minha prática como gestora, como coordenadora e como diretora, é outra, totalmente diferente. Como diretora, a minha primeira reunião foi com os terceirizados e as terceirizadas que trabalham nos serviços gerais, na limpeza da instituição. Porque são as pessoas mais esquecidas. Em seguida, me reuni com os terceirizados da parte administrativa. Eu segui o inverso do que era esperado. Ter um olhar sobre esse espaço de dizer o que eu posso fazer pra melhorar o atendimento quando as pessoas procurarem os nossos serviços. Do que eu vou fazer pra garantir o acesso e a permanência das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muda tudo. A dinâmica é outra. A prática é outra. É um outro olhar. Tudo o que você vai fazer modifica a estrutura tradicional do sistema. Porque a sua epistemologia é outra. E você vai agregar essas suas epistemologias a essa dinâmica do trabalho dentro da universidade. Eu, particularmente, mudaria muito das práticas que eu vejo acontecendo dentro da instituição. Na tentativa de melhorar. E tornar de fato a Unilab um espaço de receber as diferenças. Fazer a Unilab ser de fato da forma como ela foi pensada. Acho que nós temos muito a fazer, principalmente tendo o olhar pra essas populações historicamente vulneráveis da nossa sociedade.
DEFENSORIA: A senhora tem 45 anos. A gente vive num país cuja média de vida da população trans é dez anos a menos da sua idade. No ideário de muita gente, a senhora já deveria ter morrido. Isso lhe assusta?
LUMA: A morte é algo assustador por si só. Porque é o fim. Realmente é o fim. Eu já tive uma experiência com a morte. Eu já vivenciei a morte através de uma cirurgia que eu fiz e me fez ver o mundo totalmente diferente após essa experiência. Nós sobrevivemos a uma política de morte, como muito bem diz Mbembe (Achille Mbembe, filósofo, teórico e professor). Nós estamos vivendo a necropolítica, que atravessou a história das populações vulneráveis e excluídas da nossa sociedade. E o Estado tem um papel muito forte sobre isso, porque é ele que cria os elementos que ajudam a nos matar. As políticas desenvolvidas muitas vezes se somam ao modelo tradicional e conservador da sociedade para poder nos excluir e nos exterminar dos espaços, dos lugares e da vida. Isso é muito forte.
Eu, com 45 anos, olhando para o que eu vivi, eu sou uma sobrevivente. Porque muitas das minhas não conseguem chegar à minha idade. O que acontece com essas pessoas que sobrevivem após essa expectativa de vida que nós temos? É uma luta contínua ainda mais. Daí a necessidade da abertura dessas políticas públicas pra que essas pessoas tenham condições de envelhecer. As que se prostituem tenham condições de ter a sua profissão reconhecida para terem direito à aposentadoria. Como essas pessoas irão sobreviver se muitas vezes as vidas são precarizadas totalmente? Como vão ter aposentadoria se não tiverem acesso ao mercado formal? É uma tentativa de morte o tempo todo. Enquanto eu sou jovem, eu posso fazer muita coisa. Posso, inclusive, me prostituir. Mas chega a um momento da vida que não nos resta nada. Nem vender o corpo mais é possível. Como vamos sobreviver? Como esses corpos irão atravessar isso tudo? É uma política de morte. O tempo todo, de morte e de extermínio. Mesmo estando aqui, neste lugar, eu estou sobrevivendo a uma tentativa de morte o tempo todo. De ocupar esses espaços que eu ocupo e até de sobrevivência. Porque quando você afeta o lugar onde eu estou afeta minha condição de saúde também. E isso vai interferir na minha qualidade de vida, porque é o tempo todo um cercear da minha existência.

DEFENSORIA: Em 2023, completa dez anos que a senhora está na Unilab. Nessa primeira década, com todos os desafios, sabotagens etc, o que a senhora aprendeu com o ambiente universitário para além da violência?
LUMA: É numa frase: querendo ou não, cheguei aqui e, querendo ou não, vou continuar. Sem medo, com coragem, determinação e contando com a solidariedade das pessoas que não soltam a minha mão.
Defensoria Pública do Estado do Ceará
Av. Pinto Bandeira, nº 1.111, Bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza – CE, CEP 60.811-170.
Telefone: (85) 3194-5000
Defensoria Pública Geral do Ceará 2025 | Política de Privacidade