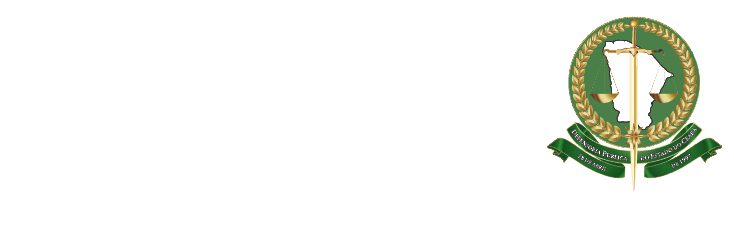“Quando você vê que pode se reconstruir a partir de uma perda, de um rompimento, você fica com mais possibilidade de se doar. E com mais possibilidades de ver a vida, de aproveitar a vida. Mudou a minha forma de ver o mundo.”
Luciaura Diógenes
60 anos.
Psicóloga e fundadora do Instituto Bia Dote.
Nascimento: Jaguaribe (CE).
Atuação: Fortaleza (CE).
“A ressignificação faz a dor mudar”
Havia um receio de nossa parte, repórteres e cinegrafista, de, mesmo involuntariamente, deixarmos alguma palavra fora do caminho e Lucinaura Diógenes ficar magoada. O que foi dito a ela “em off”, antes de as câmeras ligarem, tinha muita verdade: a última coisa que desejávamos era chafurdar uma dor, ainda mais uma tão tão tão específica. Muito embora o que nos tenha nos levado até ela havia se originado de um trauma, a gente não queria permanecer nele. Nossa vontade era falar de vida, não de morte. De começos, não do fim. De memórias, não de esquecimento.
 Por isso, subimos 11 andares de uma torre em Fortaleza que leva nome de uma cidade do Sertão Central do Ceará e seguimos para falar de sonhos, solidariedade e afago. E fomos recebidos por uma mulher cuja passagem do tempo ensinou a ressignificar a dor e acolher o outro com um sorriso, um abraço ou, no nosso caso, com os dois. Entramos e uma coisa logo saltou aos olhos: as paredes eram morada de retratos de uma menina (Bia, a filha de Lucinaura), de frases bonitas de amor e de quadros pintados por Alice, a outra filha da entrevistada.
Por isso, subimos 11 andares de uma torre em Fortaleza que leva nome de uma cidade do Sertão Central do Ceará e seguimos para falar de sonhos, solidariedade e afago. E fomos recebidos por uma mulher cuja passagem do tempo ensinou a ressignificar a dor e acolher o outro com um sorriso, um abraço ou, no nosso caso, com os dois. Entramos e uma coisa logo saltou aos olhos: as paredes eram morada de retratos de uma menina (Bia, a filha de Lucinaura), de frases bonitas de amor e de quadros pintados por Alice, a outra filha da entrevistada.
Por limitação da língua portuguesa, não há como dar nome ao que Lucinaura viveu em 2008, quando Bia cometeu suicídio, e tudo decorrente disso até ela criar, em 2013, um instituto de valorização da vida e mantê-lo em funcionamento a despeito de todas as dificuldades logístico-mercadológicas e oscilações de uma ausência eterna e infinita da garota, que dá nome ao lugar. Apesar de imenso, nosso idioma ainda não inventou uma palavra com a capacidade de reunir mulheres que perdem os seres que parem. Órfão é um termo estreito demais para a dor que elas carregam.
Dentro de uma camisa amarela, a cor favorita de Bia, e de forma discreta e recorrente acariciando o pulso, onde tem duas tatuagens em homenagem às filhas, Lucinaura olha pra você com uma serenidade difícil de mensurar. Ela assente ao nosso desejo de não falarmos da dor pela dor, no simples desejo da exploração. A mãe agradece, mas diz que quer sim falar sobre suicídio. Do contrário, a morte da filha terá sido em vão. E nos informa isso numa naturalidade que assusta.
Enquanto pacientes circulam pelos corredores, salas e ligações do Instituto Bia Dote (IBD), Lucinaura separa uma sala maior, como uma biblioteca ou escritório ou mesmo consultório, só para a entrevista acontecer. Antes, porém, informa à equipe que, em caso de qualquer urgência, é perfeitamente possível interromper a gravação.
Não interromperam. O bate-papo correu tão naturalmente que chegou perto dos 90 minutos e a impressão era de que, apesar da densidade habitual do assunto pela carga histórica que ele reúne, foi atravessado por uma leveza fora do comum. Isso porque Lucinaura tornou-se uma mãe disposta a deixar um pouco a própria dor de lado. “Eu jamais posso dizer que conheço a dor de alguém. Eu conheço a minha dor. Então, o Instituto me ensinou a respeitar a pessoa na dor dela. Eu acolho.”
Confira a entrevista.
 DEFENSORIA: Pra quem não lhe conhece, quem é Lucinaura Diógenes?
DEFENSORIA: Pra quem não lhe conhece, quem é Lucinaura Diógenes?
LUCINAURA: Eu sou Lucinaura Diógenes, uma mulher de 60 anos, mãe de Alice e Bia. E a minha história começa bem lá atrás. Eu sou geóloga. Geóloga ambientalista. Então, a minha vida quase profissional toda foi como geóloga. E aí, em 2008, Bia, minha filha, faleceu por suicídio. É quando começa a minha história com suicídio e a morte chegando em casa. Foi um marco na minha vida e na vida da minha família, porque a minha vida mudou totalmente.
Essa experiência com o suicídio, de início, foi muito difícil porque a gente tem preconceito mesmo. Eu sempre tive muito medo de morte e nunca ouvi falar em pessoas que tivesse morrido por suicídio muito próximas de mim. Pra mim, já era difícil perder a minha filha. Me deparar com essa questão do suicídio era mais difícil ainda, porque eu já não entendia bem o que tinha acontecido, mas também eu recebia muitos julgamentos e preconceitos que faziam eu me sentir culpada. E eu sempre confrontava isso porque eu achava que tinha feito tudo como mãe. Mas o que vinha de fora me deixava como se eu tivesse falhado em algum momento.
De tanto ouvirem as pessoas recriminarem quem morre por suicídio e julgarem e acharem que isso era pecado, eu, mesmo com medo de abrir um livro e estudar sobre isso, eu me propus a estudar, inicialmente, como forma de me defender, de defender minha família e, principalmente, de defender Bia. Porque eu entendia que uma pessoa que tirava a vida era por uma questão de sofrimento, de mal-estar ou de não estar se entendendo bem com a vida e eu não entendia que essa pessoa pudesse ser julgada. Me incomodava demais essa ideia de que, dentro da religião e da espiritualidade, essa pessoa iria pra inferno. Eu comecei a estudar pra entender o que era o suicídio. E pra entender como eu poderia ressignificar a minha vida a partir disso. Como eu poderia ressignificar a história de Bia.
Pra mim, trazer um sentido pra essa história de vida e de morte era muito importante. Porque eu sempre pensava que eu não queria que a vida de Bia fosse entendida como aquele último ato dela. Ela teve uma vida toda em que a gente amou muito, era de muita alegria, de muitos ensinamentos. Eu tive a oportunidade de ensinar muito pra ela e tive a oportunidade de aprender coisas lindíssimas com ela. Eu não queria que a vida dela toda fosse transformada numa tragédia ou que sempre que as pessoas pensassem nela pensassem só como um ato de pecado ou um ato de muito sofrimento. Eu queria pensar na vida dela de outra forma.
A partir daí, quando eu comecei a falar e tentar trazer esse assunto pra sociedade, eu vi como ainda tinha muitos tabus e muitos estigmas. Aí, eu pensei que eu tinha uma oportunidade de modificar isso e trazer a questão do suicídio com outro olhar. Eu tinha a oportunidade de oferecer ajuda, de oferecer um acolhimento, mas, principalmente, eu tinha a oportunidade de fazer conscientização sobre o suicídio, a saúde mental e o autocuidado. E foi assim que a minha história mudou totalmente.
DEFENSORIA: Dentro de casa, quando você era menina, essa discussão sobre viver e morrer era presente?
LUCINAURA: Era tão natural viver na minha infância e adolescência que, embora a morte faça parte da vida, a gente não falava tanto em morte. Pra mim, era muito natural viver a vida. E eu vivia numa cidade de interior onde a gente tinha muita liberdade de viver com a natureza, de brincar na rua. Nunca passou pela minha cabeça, na infância ou na adolescência, uma situação que me deixasse tão sem sentido ou que me levasse a pensar que não valia a pena viver e que o melhor seria sair da vida. Nunca pensei nisso.
Na nossa casa, como família, desde que as minhas filhas eram criança, a gente nunca se aproximou desse tema. Do tema “morte e suicídio”, não. Porque nunca tinha acontecido uma morte tão próxima e tão significativa no nosso núcleo familiar que levasse a gente a refletir sobre isso. Então, pra mim, a morte era uma coisa muito distante. Nunca passou pela minha cabeça.
DEFENSORIA: Nessa infância em Jaguaribe, nenhum personagem da cidade suscitou esse debate? Nem teus pais ou avós trouxeram o debate pra dentro de casa?
LUCINAURA: Quando morria alguém, tinha uma coisa que eu lembro muito: os sinos da igreja tocavam. E a única coisa que eu lembro que eu refletia era: “pra onde vai o amor que essa pessoa sente? Pra onde vai a inteligência dela? Pra onde vai tudo o que a gente sente quando a gente morre?”. Eu ficava pensando que aquilo saía de dentro do corpo porque o corpo não estava mais respondendo. Mas eu não refletia sobre essa finitude tão próxima. Eu acho que, talvez, o que tenha me chocado mais em toda essa história foi Bia ter pensado e não ter me falado. Ou ela ter falado e eu não ter entendido que aquilo poderia acontecer. E eu não perceber aquilo porque aquilo era tão distante de mim, que eu não imaginava que pudesse acontecer na minha casa.
 DEFENSORIA: Você falou da questão religiosa, que as pessoas acabavam dizendo muito que o suicídio não era coisa de Deus. Dentro da tua família, o contexto era católico? As pessoas também falavam isso?
DEFENSORIA: Você falou da questão religiosa, que as pessoas acabavam dizendo muito que o suicídio não era coisa de Deus. Dentro da tua família, o contexto era católico? As pessoas também falavam isso?
LUCINAURA: A gente não era muito católico. A gente tinha uma origem católica e cristã, mas a gente não tinha esse hábito de frequentar a igreja, frequentar as missas. E a gente também não tinha o hábito de rezar diariamente. A gente tinha o hábito de fazer o bem, respeitar as pessoas, de ajudar as pessoas, o que, pra mim, isso fazia todo o sentido.
Quando aconteceu tudo e a Bia ficou em coma, eu lembro demais que Alice perguntou como era que rezava. A gente pegou um terço e eu realmente não lembrava mais como era que fazia todo aquele ritual do terço. Mas eu lembro que foram cinco dias que a gente rezou demais, demais. A gente rezava muito e pedia às pessoas pra rezar, porque acreditava que ali podia acontecer um milagre. Os amigos dela, que eram adolescentes, iam muito, se reuniam lá, faziam corrente de oração e rezavam. E, um dia, teve um amigo que disse que o milagre já tinha acontecido. Que Bia ter vivido esses 13 anos era um milagre na nossa vida e que a gente podia ver isso como um presente.
Eu lembro dessa frase porque foi uma frase de adolescente, não foi frase de adulto. E, naquele momento, o que eu escutava de adultos não era muito acolhedor, porque a pessoa sempre chegava pra mim e não perguntava como eu estava ou como Bia estava. Perguntava: “você não percebeu?”, “você não viu?”, “mas a Bia, que era uma pessoa tão alegre? Se fosse a Alice…”. E, pra Alice, aquilo tava ficando muito difícil. Ela dizia assim: “gente, só porque eu sou mais calada, mais quieta, teria que ser eu a pensar [em suicídio]?”. Era uma coisa bem confusa.
Nesse tempo que Bia estava lá [na UTI], a gente aceitava qualquer reza, qualquer oração, qualquer pessoa que viesse trazer uma forma de a gente levar Bia pra casa. Eu tava aceitando tudo e acreditando em tudo mesmo. E, aí, foi um médium, um espírita. E foi bem interessante porque ele falou assim: “Bia não volta mais”. E Bia tava lá, ligada nos aparelhos e a gente tinha toda uma esperança de que ela pudesse viver. Ele começou a falar algumas coisas sobre a religião espírita, sobre a vida após a morte. E foi o que me pegou. Porque eu pensei assim: “nem tudo está perdido”. Na sua hora de desespero, você vai pensar que precisa ter alguma coisa e não pode perder tudo. Foi quando ele falou que morria só o corpo, que o espírito continuava. Talvez seja a primeira vez que eu esteja falando sobre isso, mas foi a primeira vez que a gente começou a pensar que fazia sentido aquilo. A gente começou a se interessar por saber como era isso porque a gente já estava mais ou menos sabendo que aquilo tava se encaminhando pro fim.
Quando foi diagnosticada a morte cerebral, a gente tinha a possibilidade de fazer a doação de órgãos. A morte cerebral tem que ser diagnosticada três vezes pra que seja feita a doação. E, com Bia, a gente chamou mais alguns especialistas pra fazerem esse diagnóstico. Os órgãos de Bia foram doados e quando a gente foi fazer essa doação a gente tinha que assinar a autorização. E a gente acordou que a gente só fazia a doação se eu, o pai dela e Alice, nós todos estivéssemos de acordo. E eu fui a última pessoa que aceitou isso, porque eu sabia que quando eu aceitasse eu estaria abrindo mão de qualquer remota possibilidade de poder levar a Bia de volta pra casa. Isso me pegou um pouco.
As pessoas dizem que doar é um ato de generosidade, mas eu não achei que fosse porque naquele momento doía muito em mim. Eu acho que é bem interessante a doação, mas pra família que tá doando é muito doloroso. É um momento em que você está em extrema dor, está dilacerado e precisa fazer isso. Então, eu tinha muita dúvida como eu ia me sentir fazendo isso. Mas a gente assinou e foram doados os órgãos. Eu lembro que depois que doamos eu sonhava muito com a situação de eu estar no hospital, com Bia, querendo levar de volta pra casa e não podia porque tinha doado os órgãos. De alguma forma, aquilo me afetou. As pessoas dizem que é bom doar porque espiritualmente isso vai fazer bem. Eu acredito que o maior bem que faz é pra quem recebe, porque essas pessoas estavam precisando demais naquela hora.
Pra mim, foi um momento muito difícil. Eu poderia ter escolhido trabalhar com isso ou levar essa causa [da doação de órgãos]. Mas eu acho que a causa que mais me afetou, mais causou mudança na minha vida foi o suicídio. E passar a falar sobre isso, pra mim, foi uma forma de ressignificar. Pra gente, em casa, passou a ser natural falar sobre suicídio, falar sobre morte, falar sobre luto. Eu acho que, talvez, a vida de Bia também tenha vindo pra isso, pra transformar alguns pensamentos nossos.
Às vezes, as pessoas perguntam: “se não tivesse acontecido com Bia, você abraçaria essa causa?”. Talvez não. Mas aconteceu com o grande amor da minha vida. E aconteceu de forma que eu não podia deixar isso pra trás e seguir a vida. Eu acho que eu só conseguiria me reconstruir se eu fizesse algo com tudo isso que tinha afetado a nossa vida, que tinha afetado a vida de Bia. Falar sobre suicídio ou fazer acolhimento com pessoas que têm ideação suicida pra mim faz toda a diferença porque traz o ressignificado da nossa vida.
DEFENSORIA: A Lucinaura de hoje estuda o assunto, é uma pesquisadora, tem a prática do consultório e acompanha pessoas em sofrimento psicológico. Hoje, como você encara o assunto?
LUCINAURA: Em nenhum momento, hoje, eu me sinto culpada. Mas eu acho que tudo o que eu estudei, tudo o que eu pesquiso e tudo o que eu escuto de pessoas com ideação suicida e familiares, todo esse conhecimento me daria muito suporte pra enxergar melhor o que passou com Bia. Se eu dissesse que não enxergaria, eu estaria me enganando. Eu acho que eu teria mais possibilidades de enxergar melhor. Ficaria mais claro pra mim se ela desse um sinal sutil. Não só em palavras, mas em comportamento. Eu acho que eu teria outra visão.
Na época, eu não enxerguei. Eu não consegui perceber. E, se eu tivesse percebido, eu não sei se eu teria tido coragem de perguntar: “você tá pensando em suicídio?”, “a vida está difícil pra você?” ou “você quer falar alguma coisa sobre isso?”. Hoje, eu teria essa possibilidade. Na época, não. Na época, eu nem imaginava que pudesse passar pela cabeça de Bia qualquer pensamento ou qualquer ideação de não mais viver.
Quando a gente está cuidando dos filhos da gente, a gente pensa que tá dando tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa. Você pensa que está sendo o máximo de suficiente possível. Que você está dando todo o suporte, tudo o que pode dar. No começo, as pessoas até diziam: “mas o que faltou?”. Eu penso que não faltou nada. Mas pode ser que sim, que tenha faltado alguma possibilidade de alguma conversa, que eu podia ter percebido e ter conversado, ter encontrado com ela possibilidades de sair de alguma situação que pra ela era difícil. Com os conhecimentos que tenho hoje, eu acho que seria tudo diferente.
 DEFENSORIA: Foi na conversa com o médium, quando Bia estava internada, que foi plantada a sementinha pra tua segunda graduação e pro Instituto nascer?
DEFENSORIA: Foi na conversa com o médium, quando Bia estava internada, que foi plantada a sementinha pra tua segunda graduação e pro Instituto nascer?
LUCINAURA: Não foi bem aí. Naquele momento, eu vi uma possibilidade: a de que eu não tava perdendo Bia completamente e que de alguma forma ela ia continuar. De alguma forma, eu sabia que a gente ia ter algum vínculo. E que a gente não estava se separando totalmente.
A semente do Instituto nasceu com o amadurecimento, de refletir bastante sobre o suicídio, sobre a vida e como eu poderia ressignificar a vida de Bia. E, aí, Bia trouxe algumas coisas pra mim em mensagens. Porque eu sempre perguntava como eu poderia fazer isso. Quando eu comecei a pensar em me aprofundar no assunto, entender o que era o suicídio, entender como ocorria, eu pensava que quanto mais eu estudava, mais eu via que tinha como ampliar esse conhecimento e eu pensava como eu poderia ajudar outras pessoas com esse conhecimento, com a minha experiência. E eu sabia que só com a minha experiência não era suficiente, porque eu estava tendo uma experiência de um indivíduo, de uma pessoa só.
Eu pensei que a gente poderia ampliar esse conhecimento e foi quando a gente pensou em abrir uma instituição que fosse a cara de Bia. Que fosse acolhedora, que a gente falasse do que tinha acontecido com ela, mas que a gente também trouxesse leveza. Que a gente encontrasse uma forma de falar sobre isso sem ser mórbido. De falar não de suicídio, mas de vida. Eu acho que isso é importante.
Voltar pra faculdade e fazer psicologia foi uma forma de tornar o Instituto também uma instituição que tivesse mais credibilidade. E também eu queria atender as pessoas não só no grupo de apoio como uma familiar sobrevivente. Eu queria atender pessoas com ideação suicida. Eu queria ter essa responsabilidade também de fazer um atendimento que fosse pra uma pessoa que estivesse em crise, que estivesse passando por uma situação como Bia passou e não teve a oportunidade de chegar a um profissional. E ela não teve não porque a gente não pudesse levar, mas porque realmente não teve essa abertura, não teve essa conversa, não teve esse olhar que eu pudesse perceber que ela precisava de ajuda.
DEFENSORIA: Há quem diga que suicídio é problema de saúde pública. Mas também há quem classifique como falta de deus, frescura, desejo de chamar atenção, mimimi… Hoje, tendo um olhar profissional, você classifica o suicídio como o quê?
LUCINAURA: Primeiro, a gente não pode classificar como uma questão individual. A gente já entende que o suicídio é multifatorial. Lógico, nós temos questões que são individuais, da personalidade. Mas o adoecimento mental não chega do nada. Tem uma questão que vai se instalando, que é o tempo-espaço. Tem muitas questões de vulnerabilidades contextuais. Questões culturais podem trazer sofrimento pra alguém que está vulnerável socialmente. É uma constelação de fatores que leva a pessoa a uma situação de sofrimento.
As pessoas dizem às vezes que têm pessoas que são menos favorecidas, que têm menos acesso a programas sociais e têm menos acesso à saúde mental, sofrem também e não pensam em suicídio. E que têm pessoas que são mais resilientes. Nem sempre quando a pessoa tem uma condição social melhor quer dizer que essa pessoa não passe por algum sofrimento. Muitas vezes tem os atributos pessoais, mas muito sofrimento vem de questões sociais, fatores econômicos, questões religiosas, questões culturais.
Não é uma primeira questão de dificuldade que a pessoa tem que vai levar ao suicídio. Não é porque ela terminou um relacionamento que ela praticou suicídio. Talvez essa situação estressora tenha sido a gota d’água pra ela cometer, mas ela podia vir acumulando muito sofrimento ao longo da vida dela. Ou muitos nãos. Ou a pessoa pode ter baixa tolerância à frustração. Às vezes, a pessoa tem uma personalidade muito rígida e não é flexível pra entender a opinião do outro ou pra aceitar alguns nãos da vida. São várias questões.
Não dá pra gente tratar o suicídio de forma simplista e dizer que aconteceu por questões religiosas ou porque aquela pessoa sofreu uma humilhação. Isso é importante. Os fatores precipitantes podem levar a pessoa a cometer suicídio ou uma tentativa porque a pessoa já vem acumulando outras questões. Muitas vezes, a pessoa vem com adoecimento mental de muito tempo. Agora, o fato é que a gente não tem políticas públicas de saúde mental. Ou melhor: a gente tem uma legislação, mas não é aplicada.
O que a gente precisa fazer é trabalhar por políticas públicas. Enquanto a gente não tiver um sistema de saúde mental eficiente, que acolha as pessoas, que trate as pessoas desde os primeiros sintomas que a pessoa está em sofrimento, a gente não vai chegar a lugar nenhum com a campanha só de conscientização. O que acontece com o setembro amarelo? É importante pras pessoas começarem a entender os estigmas e desconstruir os tabus. Entretanto, em setembro, as pessoas sabem que se você se percebe em adoecimento mental, você deve procurar ajuda profissional. E, aí, quando a pessoa começa a procurar ajuda profissional, ela soma um outro sofrimento, que é: ela não ter um lugar pra atendimento. Isso é muito comum. Às vezes, chega numa instituição e só tem vaga pra três meses depois. Mas, quando você está em sofrimento, você precisa pra agora. Você não pode esperar nem pra próxima semana. Então, essa questão é algo que a gente precisa discutir muito. Quando a gente conscientiza, que é importante, a gente tem, além de mostrar lugares, que a gente pressione os governos a oferecerem os serviços de saúde mental. O serviço de saúde mental não pode ficar em segundo plano. Ele é tão importante quanto qualquer outro serviço de saúde, quanto qualquer outra especialidade.
Às vezes, a pessoa chega aqui falando assim, como aconteceu uma vez com uma mãe: “se tivesse morrido de um câncer, mas morreu por suicídio?”. A pessoa estava doente. E não teve nem oportunidade de tratamento. É a mesma coisa de a pessoa ter qualquer outra doença que ela precisava de tratamento e não conseguiu. Então, essa campanha [Setembro Amarelo] é importante sim. Às vezes, as pessoas dizem: “campanha de setembro amarelo devia ser todos os dias”. Saúde mental é que tem que ser todos os dias! Essas campanhas são pra população entender que é preciso buscar ajuda, saber onde buscar, como pode fazer autocuidado, como pode procurar melhorar sua saúde mental, como pode melhorar relações com as pessoas, como você pode acolher pessoas na família, como pode fortalecer a sua rede de apoio.
Ultimamente, as pessoas têm procurado fortalecer redes de apoio através das redes sociais. É importante. Foi importante quando você não podia encontrar o outro. Mas se você pode encontrar pessoas, se você pode marcar encontros, se você pode receber familiares e amigos, se você pode ter uma boa relação com amigos e familiares, isso faz muita diferença pra quem tá se isolando e em sofrimento. É importante a gente trabalhar com o fortalecimento da rede de apoio. E a rede de apoio nem sempre precisa ser a família. Porque muitas vezes a família pode ser um fator de risco. É estranho a gente dizer isso, mas tem muitos conflitos que acontecem dentro da família. Então, se a pessoa pode fortalecer a sua rede de apoio com pessoas do grupo de trabalho, do grupo religioso, do grupo social, a pessoa pode buscar isso pra, quando estiver numa situação de stress, ter com quem contar.
 DEFENSORIA: A literatura diz que é possível evitar o suicídio desde que a família saiba identificar sinais e a pessoa em sofrimento tenha acesso a uma rede pra acompanhamento efetivo. Qual análise de cenário da rede pública você faz hoje a partir dos atendimentos que você faz aqui?
DEFENSORIA: A literatura diz que é possível evitar o suicídio desde que a família saiba identificar sinais e a pessoa em sofrimento tenha acesso a uma rede pra acompanhamento efetivo. Qual análise de cenário da rede pública você faz hoje a partir dos atendimentos que você faz aqui?
LUCINAURA: O acesso à saúde mental é incipiente ainda. É muito pouco. Na rede pública, o Caps oferece acesso à saúde mental, mas pra casos graves. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem a informação de que há algumas condições pra ser atendido no Caps. O primeiro é ser daquele território do Caps. O segundo é que o Caps não tem suporte pra atender a todas as pessoas daquele território que estão em adoecimento de saúde mental. Ele pode atender às pessoas que estão mais adoecidas, com um transtorno um pouco mais grave.
O Caps também não tem atendimento de psicoterapia. Ele tem atendimento psiquiátrico de urgência e alguns trabalhos com arte terapia. Então, o que acontece: a população não tem muito acesso à saúde mental. A gente pode citar alguns programas no contexto da cidade de Fortaleza e as clínicas-escola, que também fazem esse trabalho importante, mas estão todas lotadas.
Quando a pessoa chega aqui, vem encaminhada do Caps, do posto de saúde, da Rede Aquarela, do Conselho Tutelar e de vários lugares que não têm um serviço de psicoterapia instalado nem outros lugares pra onde possam encaminhar. Aqui, todo o serviço de psicoterapia é gratuito. Porém, a gente tem uma lista enorme, porque as pessoas vão chegando.
A gente atende a pessoas com ideação suicida, com comportamento suicida ou transtornos relacionais. E só pessoas a partir dos 12 anos. Então, aqui já tem uma série de critérios e, mesmo assim, a gente todo dia recebe muitas pessoas, tanto as que vêm encaminhadas quanto as que estão se percebendo e ligam pedindo pra fazer inscrição.
DEFENSORIA: Além da psicoterapia, o Instituto tem outros projetos?
LUCINAURA: Tem. A gente tem o grupo de apoio às famílias sobreviventes do suicídio. Tem o projeto “Abrace Bia” que, antes da pandemia, a gente ia na casa da pessoa que tinha perdido alguém por suicídio mais recentemente, como se fosse um primeiro acolhimento. Mas agora a gente faz aqui no Instituto quando a família liga. Ela marca o dia que pode vir e eu faço o acolhimento aqui e não determino tempo. Tem acolhimento que dura duas horas, duas horas e meia, porque eu deixo a família à vontade pra falar e pra discutir sobre o assunto. Muitas vezes, a família vai dizer como ela tinha percebido esse familiar, como ela tá se sentindo agora, o que ela pode fazer e o que não pode fazer.
A gente tem um clube de leitura sobre morte, vida e finitude, que acontece uma vez por mês, aos sábados. Temos o projeto Terapia na Cidade, que é um plantão psicológico que ocorre aos sábados, on-line. E a gente tem alguns projetos que são de intervenção urbana, como o “Palhaçaria e Potência de Vida”, o “Fôlego” e as palestras. A gente faz palestras nas escolas quando é solicitado. Julho, agosto e setembro são meses em que a gente tem bastante demanda.
DEFENSORIA: Vamos falar dos sinais. Eles existem mesmo?
LUCINAURA: Existem. Mas nem todas as pessoas que estão pensando em suicídio dão sinais. E essa é uma questão que traz muito sofrimento pra família. O setembro amarelo já é um mês muito difícil pra família enlutada pelo suicídio, porque é quando ela mais sabe que a pessoa pode ter dado sinais e que deveria ter buscado ajuda. Essa questão de que 90% dos casos poderiam ter sido evitados traz muito sofrimento pra família, porque muitas famílias vão acessar essas informações somente depois que acontece o suicídio ou depois de uma tentativa. Então, a primeira coisa que a família pensa é: a pessoa deu sinais e a gente não percebeu.
Algumas pessoas dão sinais mesmo. Falam frases. Algumas pessoas pensam “ah, podia ser pra chamar atenção”. Normalmente sim. Quando você tá fazendo isso, você tá comunicando que alguma coisa não tá bem. Então, algumas pessoas postam na Internet, dizem algumas frases que são bem características de quem está passando por algo muito difícil, tipo: “está muito pesado”, “não aguento mais”, “vocês estariam melhor se eu não estivesse aqui”, “queria dormir e não acordar mais”. São frases que você pode pegar e aprofundar, pra saber como ajudar ou como oferecer ajuda.
As famílias têm essa questão das frases, que elas se sentem muito culpadas. Tem a questão do “e se”, que é outra situação que leva muita gente a crer que a gente poderia ter feito algo mais se tivesse chegado antes ou se não tivesse saído de casa. É um assunto que eu sempre confronto as pessoas porque se ela sempre sai pra trabalhar, como é que ela não ia sair de casa naquele dia? Tem a culpa, mas muitas situações que levam a pessoa a sofrimento é a questão de julgamento, não só do familiar enlutado, mas de a própria sociedade julgar aquela família como se ela tivesse uma parcela de culpa por não ter evitado, por não ter ajudado mais. Aí, isso é bem difícil. Acho que meu maior trabalho com o enlutado por suicídio é confrontar essas questões.
DEFENSORIA: Qual o perfil predominante do público do Instituto?
LUCINAURA: O público do Instituto para o atendimento psicológico tem muitos adolescentes e adultos jovens, mas também tem idoso.
 DEFENSORIA: Você percebe que existem marcadores sociais que pesam mais do que outros para o sofrimento psicológico? Um homem branco cisheterossexual chega aqui com as mesmas marcas que uma mulher preta, lésbica e de periferia?
DEFENSORIA: Você percebe que existem marcadores sociais que pesam mais do que outros para o sofrimento psicológico? Um homem branco cisheterossexual chega aqui com as mesmas marcas que uma mulher preta, lésbica e de periferia?
LUCINAURA: O instituto não tem um critério econômico e social. Aqui chega gente de classe média e de classe baixa. É lógico que as pessoas de periferia e negras têm muito menos acesso ao sistema de saúde mental. Então, elas chegam muito mais. Mas também tem outras questões.
Tem muitos conflitos interpessoais e familiares por questões de gênero, principalmente com adolescentes. Os pais entendem que o filho está saindo da linha e não entendem como é que a pessoa não está no gênero que a família escolheu. É uma questão muito séria e de muito sofrimento. Muito sofrimento mesmo.
Também tem muito abuso de mulheres. Uma dona de casa que já tem pouca condição, tem as obrigações de trabalhar fora, de trabalhar em casa e ainda é explorada pelo companheiro. Então, tem muitas situações que levam ao sofrimento e à ideação mesmo. A condição social tem muita influência no adoecimento mental. Muito mesmo.
DEFENSORIA: No jornalismo, há um tabu muito grande de que não se pode falar em suicídio porque, ao fazer isso, a gente estimula outras pessoas fazerem o mesmo. Você acredita nisso?
LUCINAURA: A gente tem que falar sobre, só que a gente tem que falar da forma correta. A gente pode falar sobre as estatísticas, as formas de prevenção, definir melhor o que é o suicídio, definir melhor quais são os fatores precipitadores… Você conhecer os fatores de risco é importante.
Eu não sabia, por exemplo, que se tem alguém que praticou suicídio na família, mesmo que seja em duas gerações passadas, isso pode levar a outras pessoas da família a praticarem também. Não é questão de genética, mas de histórico familiar. Eu vim saber disso depois que Bia faleceu. E é uma questão importante de você saber pra você fazer prevenção.
É importante você saber que quando uma pessoa tenta uma primeira vez esse é o fator de risco mais importante pra que ela tenha risco de tentar de novo. Ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção. Então, é importante que a imprensa divulgue o que é fator de risco, o que é fator de proteção, quais cuidados você pode buscar, como você pode melhorar sua saúde mental, como você pode fazer terapia no sono… São várias situações que a imprensa pode falar. Pode falar, inclusive, a palavra suicídio que não vai ninguém praticar suicídio.
O que não é interessante, o que não deve ser feito é: quando uma pessoa morre por suicídio, a imprensa divulgar o método. A gente não divulga método. A gente não mostra foto de pessoas que praticaram suicídio. Não fica ressaltando artistas que praticaram ou republicando matérias que levem a esse pensamento. Não divulga sites que ensinam a praticar.
É importante a conscientização. A imprensa é uma grande aliada pra que se faça prevenção do suicídio. E que comecem a desmistificar, comecem a trabalhar os estigmas. Porque quando você fala e fala de forma consciente, você tá abrindo esse assunto pra que outras pessoas possam falar também de forma consciente. A gente pode começar a desfazer os preconceitos que a cultura vem trazendo de muito tempo de que é falta de Deus, que é mimimi, que a pessoa fez pra chamar atenção… Eu ouvi muito isso.
As pessoas têm tanto medo de falar sobre que quando acontece uma tentativa de suicídio na família, a pessoa é resgatada, vai pro hospital e, ao retornar pra casa, ninguém fala. Nem quem tentou fala porque fez e o que estava sentindo e o que levou a fazer isso, muitas vezes por vergonha, nem a família fala, pra que a pessoa não pense mais nisso. Mas todo mundo tá pensando. Esse pacto de silêncio é um fator de risco também. Porque a família não buscou ajuda, não procurou orientação, não foi feita uma psicoeducação e continua em risco.
DEFENSORIA: Mesmo hoje, com todo o avanço em torno do assunto, você acha que ainda há esse pacto silencioso?LUCINAURA: Tem. Mas o que é interessante é que algumas pessoas procuram saber o que fazer. Às vezes, famílias ligam pra saber: “e quando a pessoa voltar do hospital, o que faz?”. A gente também faz psicoeducação de quando a pessoa está num risco significativo. A gente chama a família pra falar dos fatores protetores, de tirar algumas situações de risco de dentro de casa e de como acompanhar essa pessoa. São informações pra família, mas que pode ser divulgado em outros canais. Por isso, acho que a imprensa é uma grande aliada.
 DEFENSORIA: Qual é o grau de conhecimento que as famílias têm sobre a prática do suicídio quando chegam ao Instituto? E a pessoa com ideação suicida, qual o grau de conhecimento dela? Via de regra, essas pessoas sabem que existem várias formas de abordar a questão?
DEFENSORIA: Qual é o grau de conhecimento que as famílias têm sobre a prática do suicídio quando chegam ao Instituto? E a pessoa com ideação suicida, qual o grau de conhecimento dela? Via de regra, essas pessoas sabem que existem várias formas de abordar a questão?
LUCINAURA: Quando é um adolescente, mesmo que seja um adolescente de periferia, se ele tem acesso à Internet, ele já vem sabendo de algumas coisas. Alguns chegam quase com um diagnóstico aqui. Começam a dizer como estão se sentindo, que está muito difícil, e pedem ajuda.
Os pais vêm naquela situação de angústia e desespero, mas não sabem como fazer. Aí são várias situações. Tem situações em que os pais tratam isso com agressividade, com castigo. A pessoa está se automutilando e o pai ou a mãe bota de castigo pra pessoa aprender a não fazer mais isso, o que é um erro porque essa pessoa está num processo de sofrimento muito grande. O que a gente precisa fazer? Precisa fazer psicoeducação com essa mãe ou com esse pai. Mostrar como ela pode ser apoio, como ela pode buscar na comunidade dela redes de apoio.
O importante também que a gente faz com adolescente é mostrar essa família como aliada. Porque o processo de psicoterapia é uma vez por semana e você faz toda uma construção com esse adolescente, uma forma de ele se reorganizar, pensar com ele possibilidades, mas às vezes a família tem destruído todo esse murozinho que a gente vai construindo. E a gente começa a reconstruir. A gente já percebeu nesse processo que a família precisa ser uma aliada. É importante que a gente faça todo um trabalho com a família ou com o acompanhante que tá vindo, de psicoeducação mesmo, mostrar que a pessoa não pode ficar com a medicação pra administrar. Muitos adolescentes fazem tentativa com a medicação quando entra em crise e a gente faz todo um trabalho com a família mostrando como ela pode ajudar nesse processo.
DEFENSORIA: Quando o paciente não quer ajuda, as famílias procuram e vocês fazem esse trabalho de fora pra dentro?
LUCINAURA: Normalmente, quando a pessoa chega até aqui ao Instituto, ou está vindo encaminhada de alguma unidade de saúde ou de algum serviço social, ou a pessoa está trazendo ou a pessoa vem espontaneamente. Dificilmente tem alguém que liga dizendo que a pessoa está em casa e não quer mais ajuda.
Muitas pessoas procuram ajuda e quando estão se sentindo bem, acham que podem ir sozinha e abandonam o tratamento. Tem pessoas que mesmo já se sentindo melhor ainda dão continuidade ao tratamento. Mas tem gente que com seis, oito semanas abandona o tratamento porque acha que tá legal. Aí, com quatro ou cinco semanas entra em crise e precisa voltar. Acontece porque vão acontecendo outras situações estressoras na vida da pessoa e ela ainda não criou resiliência ou ainda não viu como mudar esse pensamento de como ver a vida, como ver o futuro, e não se organizou pra isso. Agora, se a pessoa fica em casa e diz que não quer mais ajuda, a família tem que buscar ajuda realmente na psiquiatria; ajuda com um profissional num outro nível, mais especializado.
DEFENSORIA: É importante você falar em atendimento especializado \porque se criou um mito de que a amizade cumpre esse papel de escuta, mas a verdade é que não é bem assim…
LUCINAURA: As pessoas dizem assim: “ah, eu escuto bem, eu seria um ótimo psicólogo; então, se precisar de ajuda, eu estou aqui”. É importante que você tenha a sua rede de amigos bem fortalecida e que você tenha seus programas sociais. Isso é importantíssimo! Mas o amigo não substitui o profissional especializado. Se a pessoa tá em sofrimento psicológico ou ela tá percebendo que tá começando a desenvolver algum transtorno, que alguma coisa não tá bem, além do amigo, ela vai ter que procurar um profissional. Porque quem vai poder orientar, quem vai poder acompanhar é um profissional.
As pessoas ainda têm muito preconceito com a terapia medicamentosa. Muitas vezes, é importante que a pessoa passe por uma terapia medicamentosa mesmo, que ela vá a um psiquiatra, a um neuropsicólogo, que ela procure especialistas pra que se estabilize. Se você faz só a terapia medicamentosa pra um problema que vem se instalando, que está na sua história de vida e você precisa refletir sobre ele, que precisa mudar alguma forma de pensar, de sentir, de resolver as suas questões, muitas vezes a terapia medicamentosa não resolve. Ela só vai deixar você estabilizado organicamente. E aí você precisa ter consciência disso: que uma só coisa pode não resolver. Pode precisar da terapia medicamentosa e se você precisar de terapia é importante fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
 DEFENSORIA: Ou seja: procurar um psiquiatra ou um psicólogo, não significa se entupir de remédio…
DEFENSORIA: Ou seja: procurar um psiquiatra ou um psicólogo, não significa se entupir de remédio…
LUCINAURA: Não. Não significa. Se você vai fazer psicoterapia, uma terapia de grupo, você está tratando das suas questões mentais no nível cognitivo e emocional. O psicólogo vai, se em algum momento sentir que o paciente não está evoluindo como o esperado, encaminhar pro psiquiatra. E as pessoas precisam entender que nem sempre você vai começar uma terapia com medicamentos e vai passar o resto da vida. Tem esse preconceito de que se vai ficar dependente de medicação pro resto da vida. Pode ser que não. Vai depender de como ele vai evoluir nessa medicação. Até porque psicólogo não pode prescrever medicação, de jeito nenhum.
DEFENSORIA: O Instituto é sua maior realização na vida?
LUCINAURA: Não. Enquanto mãe, a minha maior realização é ser mãe. Eu adoro. Quando Bia faleceu, eu fiquei numa situação, pensando se diria se tinha uma filha ou duas filhas. Eu precisei elaborar muito bem isso pra entender que eu continuava sendo mãe de duas filhas e que Bia continuava sendo minha filha. Isso foi muito importante, porque são coisas que a gente ainda não viveu e você não sabe como viver isso.
Uma vez, eu estava no túmulo de Bia e duas meninas chegaram e perguntaram: “você era mãe dela?”. E eu respondi: “não, eu sou mãe dela”. Desde esse dia, isso pra mim ficou chancelado que isso era assim e eu não tive mais dúvidas.
O Instituto me dá uma satisfação muito grande. Porque ressignificou minha vida. Eu gosto de vir pra cá. Eu gosto de acolher as famílias enlutadas. Eu gosto de falar sobre isso. Eu, sempre que tenho a oportunidade, não só aqui no Instituto ou em palestras, mas até em rodas de conversas, eu trago o assunto. Porque é um assunto que merece ser discutido, merece ser socializado. Eu acho isso importantíssimo. Então, é uma realização pra mim que foi crescendo, foi brotando. Não foi algo planejado. As coisas foram florescendo, foram acontecendo e eu fui gostando e vendo que fazia sentido e fazia sentido pra outras pessoas.
DEFENSORIA: Nesses dez anos, o que a vivência no Instituto te ensinou?
LUCINAURA: Me ensinou que a gente precisa se doar de forma incondicional. A gente pode fazer isso. De alguma forma, esse acolhimento transforma a gente. Você se sente diferente. Porque você consegue perceber o outro. Você consegue acolher o outro de outra forma. O que mais me atrai no trabalho com o Instituto é eu poder olhar pra quem vem em sofrimento, pra quem vem em um luto intenso, pra quem vem dilacerado com a dor, e eu sentir nos olhos dela que ela pode confiar em mim e ela pode trazer a história dela. E que eu posso ajudar minimamente essa pessoa, porque eu imagino que ela deve estar com uma dor muito grande.
Eu jamais posso dizer que conheço a sua dor. Eu não conheço. Eu conheço a minha dor. Mas a dor daquele que está chegando naquele momento é só dele. O Instituto me ensinou o respeito. A saber respeitar a pessoa na dor dela.
DEFENSORIA: Como é que se acolhe uma família que sobreviveu a um episódio de suicídio?
LUCINAURA: É só respeitando a dor dela. Um dia, chegou uma família aqui e eu disse: “deve estar sendo muito difícil pra você, né?”. E disse: “eu gostaria de já ter ouvido isso outras vezes”. Porque as pessoas pensam que você tá muito bem, que você tá reagindo. Às vezes, a pessoa tá só em pé, sabe? Tá um buraco dentro dela e outras pessoas imaginam que sabem como ela tá se sentindo porque tá vendo ela aí, frente a frente. Eu só acolho. Porque eu não imagino dizer qual é a dor. Eu só imagino que ela está sofrendo muito.
Uma coisa que eu me sinto muito bem é quando a pessoa vem e abre toda a história. Ela traz toda a história, como ela tá sentindo, como ela viu aquele filho e aquela filha e como viu quando encontrou. Ela conta todo o desespero dela. É uma oportunidade que ela tem que a gente não tem socialmente, porque as pessoas não gostam de ouvir essa tragédia. Quando você perde alguém, já é difícil pro outro ouvir falar sobre a morte dessa forma. Porque sempre que morre alguém, a gente pensa assim: “ainda bem que não foi eu”, “ainda bem que não foi o meu”. Isso é egoísta, mas a gente pensa assim. E você chegar e falar tudo isso, falar tudo o que aconteceu, é muito difícil você ter esse acesso na própria família e nos amigos. Porque as pessoas dizem assim: “não fale não porque vai lhe doer”. Já tá doendo muito. Quando a pessoa fala, alivia um pouco essa dor. Ela se escuta contando a história dela.
Então, a maioria dos familiares enlutados aqui vem em busca, primeiro, de contar essa história. E a história vem nua e crua como aconteceu, na maioria das vezes, como ele nunca conseguiu contar pra ninguém. E a segunda coisa que a pessoa pergunta é quando é que a dor vai passar.
DEFENSORIA: E ela passa?
LUCINAURA: Eu digo: “eu não sei”. Porque ela muda. Ela muda. Essa ressignificação faz essa dor mudar. Faz você ver o mundo de outra forma. Eu digo isso. É o tempo. Eu não sei quando vai passar. Porque pra cada pessoa vai ser uma caminhada. É uma reconstrução. A gente não supera nunca. Mas a gente se reconstrói. A gente se readapta à vida sem essa pessoa. Porque quando a gente perde um filho ou uma pessoa que a gente ama muito, a gente não perdeu só a pessoa. A gente perdeu todo o futuro que a gente pensou com ela. Eu perdi os netos que eu teria com Bia, eu perdi a profissional que ela seria, a companheira que ela seria. Eu perdi tudo isso, que era o meu futuro com ela. Me imaginar velha com ela era uma expectativa. Então, toda a expectativa de vida que a gente tinha com essa pessoa se rompeu ali. A gente cria outras.
Você não consegue caminhar deixando seu filho pra trás ou deixando quem você ama pra trás. Então, o que você precisa fazer: encontrar um lugar seguro dentro de você, que é nessa reconstrução, pra que você leve contigo. E eu levo em todos os lugares que eu vou. Vir ao Instituto fazer o que eu faço aqui, eu venho trazendo Bia no meu coração. Porque é o único lugar em que eu posso colocá-la. Então, esse caminhar eu faço com ela. Porque se fosse sem eu não teria como caminhar.
 DEFENSORIA: Por que, dado à dinâmica social que nós temos hoje, num mundo cada vez mais acelerado, é tão importante a gente falar de saúde mental?
DEFENSORIA: Por que, dado à dinâmica social que nós temos hoje, num mundo cada vez mais acelerado, é tão importante a gente falar de saúde mental?
LUCINAURA: A gente só tá bem quando a gente tá bem com saúde mental. Você pode estar bem financeiramente. Você pode estar com o corpo funcionando bem. Mas se não está com a cabeça funcionando bem, se seus sentimentos e seus pensamentos não estão bem, então não tem como você estar bem. Pra gente ter uma vida saudável, a gente tem que estar bem do corpo, da mente e do espírito.
Saúde mental não era pra gente cuidar só quando a gente já está sofrendo com um transtorno ou quando você está com uma depressão maior ou com ansiedade ou com crise de pânico. Saúde mental era pra gente começar a tratar na infância, na pré-escola, quando a gente tá começando a querer se isolar ou não tá aceitando alguma coisa ou não tá sabe aceitar os nãos. Era pra gente se preparar antes. É saber se socializar na escola, saber dividir, saber cuidar do outro. Trabalhar mais o coletivo do que o individual é trabalhar a saúde mental.
Mas saúde mental também é a gente ter condições dignas de vida. Se você não tem condições de ter o mínimo necessário na sua casa, que é ter alimentação pros seus filhos e ter um acesso a médicos, como você vai ter saúde mental? Como uma mãe vai ter saúde mental pra ensinar os filhos o que é ser saudável se ela não tem a mínima condição? A gente precisa muito mais do que acesso a lugares [para tratamento]. A gente precisa que as pessoas tenham condições dignas pra que elas tenham saúde. E, quando a gente fala em saúde, a saúde mental tá inclusa nisso.
Eu acredito que a gente precisa muito mais do que ter um lugar pra cuidar da saúde mental. Esses lugares é pra quando você já está adoecido. A gente precisa de bons programas sociais, a gente precisa ter educação, ter esporte, ter cultura. Não tem como você ter uma população saudável se você não tem boas condições de acesso à escola e à cultura. A gente precisa mudar isso. Tratar de saúde mental é você poder ter acesso a lugares onde você vai ter descompressão de todo o dia de trabalho que você teve. Se você tem um dia de trabalho tumultuado e você chega em casa e tem outras questões pra resolver e não resolve por questões econômicas e sociais, isso é adoecedor também. E eu não vou nem falar de governo que adoece o povo, né? Mas a gente precisa lutar por muito mais garantias de educação, saúde e cultura do que qualquer outra coisa.
DEFENSORIA: Você disse que quando uma família sobrevive ao suicídio, ela passa por uma virada de chave e enxerga a vida de outra forma. Como você enxergava a vida antes e como você enxerga a vida agora? O que mudou?
LUCINAURA: Antes, eu enxergava uma coisa mais pro núcleo familiar. Eu tinha projetos individuais. Eu tinha projetos pra família. Não quero dizer que era uma coisa egoísta, porque é lógico que a gente vê todas as questões sociais, mas era num ciclo mais fechado. Quando aconteceu o suicídio de Bia, eu comecei a ver a vida de outra forma. Eu comecei a ter projetos mais sociais, a socializar mais o que eu conhecia, a socializar mais o que eu tinha, meus recursos. Eu vi que eu podia também empregar de forma que eu pudesse beneficiar outras pessoas. Isso também trouxe essa diferença na minha vida. Eu passei a ser uma pessoa mais social. Saber dividir o que eu tenho.
Quando você vê que pode se reconstruir dessa perda, desse rompimento, você também fica com mais possibilidades de se doar. E com mais possibilidades de ver a vida, de aproveitar a vida. Mudou a minha forma de ver o mundo.
DEFENSORIA: A palavra “amor” está escrita ou presente em vários espaços do Instituto. É o amor que move isso aqui? É o amor que vai fazer a gente conseguir enxergar outras possibilidades?
LUCINAURA: É o amor que vai promover mudanças. E o amor em amplas formas. Eu acho que essa forma de amor e transformar esse amor de Bia em doação, em possibilidades pra outras pessoas, isso fez diferença na minha vida. E faz. Faz muita diferença. Mas uma coisa importante pra mim é que ninguém precisa me agradecer por isso. Pra mim, não é importante que a pessoa atendida pelo Instituto tenha um agradecimento ao Instituto. É importante que ela saia bem. Porque essa é a função do Instituto. É o objetivo que a gente quer. Eu acho que o amor transforma. Ele faz a gente ver o mundo de outra forma.
 DEFENSORIA: Qual mensagem você deixa pra quem está com medo de buscar ajuda?
DEFENSORIA: Qual mensagem você deixa pra quem está com medo de buscar ajuda?
LUCINAURA: Busque ajuda. Hoje em dia, a gente tem muitas facilidades de pelo menos conhecer onde a gente pode ter esse acesso. Procure as pessoas certas. Muitas vezes, a família desacredita que a pessoa está sofrendo. Então, se você não consegue buscar ajuda com essa família porque ela não entende ainda que saúde mental é importante ou acha que aquilo é mimimi e pra chamar atenção, mas se você tem um amigo que entende ou tem um professor que entende, o importante é você falar sobre o que está sentindo.
Muitas vezes, a pessoa acaba praticando uma tentativa ou um suicídio mesmo com aquilo guardado dentro dela. Muitas vezes, a família chega aqui atrás de uma resposta. E pode ser que ela passe o resto da vida nessa busca. Porque muitas vezes ela não vai encontrar essa resposta, porque quem tinha levou com ela. Então, é importante que quem está passando por um processo de sofrimento busque ajuda. Não tenha vergonha de dizer. É a mesma coisa de quando a pessoa está com uma dor de cabeça ou uma dor de barriga ou quando está com qualquer adoecimento do corpo. A pessoa não manifesta e fala pras outras pessoas? É a mesma coisa com a saúde mental.
A pessoa não precisa ter vergonha de dizer que tá se sentindo deprimido ou que tá com ansiedade ou que não sabe o que tá sentindo, mas não tá nada bem e precisa de ajuda. Em algum lugar, essa pessoa vai encontrar apoio, num amigo ou numa ajuda especializada, se for esse o fim que essa pessoa precisa.
SERVIÇO
INSTITUTO BIA DOTE
ENDEREÇO: avenida Barão de Studart, nº 2.360, sala 1106
TELEFONE: (85) 3264.2992 ou (85) 9.9842.0403
SITE: www.institutobiadote.corg.br
Defensoria Pública do Estado do Ceará
Av. Pinto Bandeira, nº 1.111, Bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza – CE, CEP 60.811-170.
Telefone: (85) 3194-5000
Defensoria Pública Geral do Ceará 2025 | Política de Privacidade