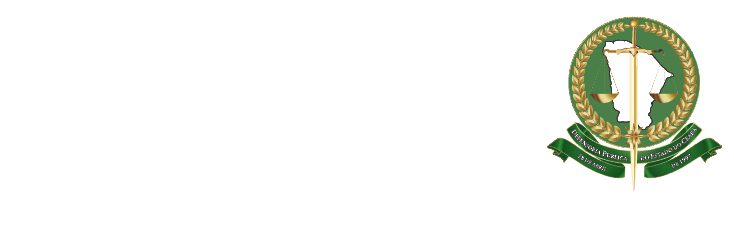“Tudo o que a gente quer é ser o que a gente é. Então, o meu sonho é muito maior: eu sonho com uma sociedade em que não exista o racismo, não exista a exclusão social. E que cada um e cada uma tenha o que comer e onde viver.”
Damiana Bruno
36 anos.
Camponesa, líder do MST e estudante universitária.
Nascimento: Iracema (CE).
Atuação: Acampamento Zé Maria do Tomé (Limoeiro do Norte).
“Enquanto movimento, a gente se torna humana”
O caminho até a casa de Damiana Bruno é de cascalho de cal. Um chão branco bonito, que mais lembra uma nuvem alva do sertão. O sertão onde ela mora. É esse soalho que separa a beira do canal do perímetro irrigado, na Chapada do Apodi, da construção cujo teto ela divide com o companheiro, o casal de filhos, papagaios tagarelas, tatus-peba, cachorros e o simpático Nino, um gatinho branco, manhoso e de olho azul e estrábico.
 O lar da agricultora é de taipa e piso de cimento cru, como são quase todas as moradas do Acampamento Zé Maria do Tomé, em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe cearense. Das cerca de 100 famílias que lá moram, apenas 12 estão cercadas de paredes de alvenaria. Todas as demais vivem em edificações de pau e barro. E é lá, na lida com a terra, que Damiana gosta de estar. Foi nesse lugar, então, sob a sombra de um pé de sabiá, no qual borboletas pretas pintadas de laranja deixam borrões bonitos no céu, que ela recebeu a equipe da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública.
O lar da agricultora é de taipa e piso de cimento cru, como são quase todas as moradas do Acampamento Zé Maria do Tomé, em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe cearense. Das cerca de 100 famílias que lá moram, apenas 12 estão cercadas de paredes de alvenaria. Todas as demais vivem em edificações de pau e barro. E é lá, na lida com a terra, que Damiana gosta de estar. Foi nesse lugar, então, sob a sombra de um pé de sabiá, no qual borboletas pretas pintadas de laranja deixam borrões bonitos no céu, que ela recebeu a equipe da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública.
Sandália de couro nos pés, calça marrom, brinco de pena por ela mesma produzido e camisa vermelha com homenagem a Marielle Franco, ela não titubeia ao convite de revirar a terra e mostrar o arado e o sangradouro das semeaduras. Tem orgulho de onde vem. E não vacila nem por um segundo quando ouve o pedido para andar entre as centenas de bananeiras do quintal da casa, de onde, num gesto de carinho, colhe uma penca de pratas verdinhas para o repórter fotográfico ZeRosa Filho.
Parte da entrevista aconteceu diante da casa de Damiana, com Nino ora traquinando entre nossos pés, ora atentando contra a fiação das câmeras e microfones. Ou mesmo usando os dentes afiados para assustar a tutora em mordidinhas nada inocentes. O gato é parte do que a natureza oferece de exuberância, assim como a água transparente do canal, povoada por búzios e peixinhos coloridos, e o ar notadamente mais puro do que o de um grande centro urbano.
A outra metade da conversa deu-se na mesa de uma conhecida panificadora de Limoeiro do Norte, ao lado do prédio no qual Damiana faz faculdade. Descemos para lá depois de o sol ir embora e levar qualquer chance de continuarmos a tomar fotos e filmagens. O último registro foi da agricultora reproduzindo no portão de entrada do Acampamento o gesto de resistência dos movimentos sociais, onde seu Luís, um senhor negro e afeito às gentilezas e farturas típicas do homem sertanejo, nos ofereceu, horas antes, um sorriso largo e milhos cozidos.
Não é apenas o punho cerrado que Damiana levanta para a foto. É também a voz, mas para a vida. De estatura baixa – ela cabe em 1,49 metro -, a mulher se avoluma quando fala. Forte e firme, o olho brilha. Mas também chora ao imaginar o futuro para os filhos. O que pensa, idealiza, sonha, tudo está muito bem estruturado na fala. O discurso é montado todo a partir do outro. Tendo a própria experiência como ponto de partida, por óbvio. Mas sempre projetando o outro. Pelo outro. Para o outro. Por isso, as palavras são que nem um abraço. A gente se aconchega, mesmo que pela gemeidade da dor.
Confira a entrevista.
 Defensoria: Quem é Damiana Alves Bruno?
Defensoria: Quem é Damiana Alves Bruno?
DAMIANA BRUNO: Meu nome é Damiana Alves Bruno, eu tenho 35 anos, sou militante feminista, sobretudo negra. Sou camponesa. Eu venho da agricultura. Sou agricultora, na verdade. Sou mãe de dois filhos: um com 17 e uma menina com 10 anos. Sou filha da cidade de Iracema, de onde saio a partir da construção da Barragem do Figueiredo. Então, tem toda uma questão de militância dentro do Movimento dos Atingidos por Barragens. Hoje, eu sou estudante de Técnica Agrícola com ênfase em Agroecologia na Escola Família Agrícola Zé Maria do Tomé, que fica no Vale do Jaguaribe. Sou estudante de Pedagogia na Uece, no campus Fafidam, em Limoeiro do Norte. Desde 2014, estou um pouco mais dentro do acampamento, que é quando a gente constrói o acampamento. Naquele período, era a gente, da Cáritas Diocesana. Então, eu faço parte da construção do acampamento e permaneço a partir do envolvimento afetivo com uma pessoa dentro do acampamento. Aí é onde eu tenho um pouco mais de proximidade com o MST (Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra). A gente já tinha todo um vínculo, mas esse vínculo se torna maior dentro do MST a partir do acampamento.
DEFENSORIA: Como o acampamento surgiu, quais eram/são os principais objetivos da ocupação e como é feito o trabalho coletivo pra preservação do Vale do Jaguaribe?
DAMIANA: O acampamento surge numa necessidade. Nós vamos pegar, naquele período, mais de 1.000 famílias. Elas encontram na construção do acampamento uma forma de resistir e de lutar. Quando nós pensamos na ocupação, nós trouxemos de todo o Ceará mais de mil pessoas na madrugada do dia 5 de maio de 2014, a partir das necessidades dessas famílias. O que a gente imaginava e o que a gente podia comprovar naquele momento: a necessidade das famílias que estavam em torno do grande perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, onde algumas viviam em situação de trabalho análogo à escravidão. Dentro do Vale do Jaguaribe foi comprovado.
A gente, da Cáritas de Limoeiro do Norte, tinha um acompanhamento específico dentro das comunidades da Chapada do Apodi. No entanto, o acampamento já vinha de um debate muito longo, de muitos anos. O perímetro era muito grande, estava ocupado pelas multinacionais, pelas grandes empresas nacionais, que expulsava todas aquelas famílias. Nesse perímetro, a gente vê o modelo do agro e do negócio na destruição do solo, no aumento da prostituição, na criminalidade da juventude, a exploração sexual de mulheres… Quando isso vai crescendo, vai crescendo também a expectativa pra mudar essa história. O objetivo do acampamento era resgatar também os homens e mulheres, a juventude que estava presa nesse modelo capitalista que mata, que pulveriza, que envenena, que destrói, que causa má formação congênita em fetos, que faz o Vale do Jaguaribe ter o maior número de pessoas com câncer do Ceará. A gente queria encontrar uma forma de contrapor esse modelo que, por vezes, é apadrinhado por muitos que dizem ter o poder nas mãos.
Quando a gente vem pro acampamento nesse processo de construção, o que a gente pensava: ter um espaço onde homem e mulher se sentissem livres. Livres pra trabalhar, pra poder produzir e poder tomar uma água saudável e dizer: “hoje, eu respiro saudavelmente”. Porém, a gente sabe que mesmo nesse contexto histórico “acampamento versus agronegócio” existe um teor muito grande de contaminação. Nesse processo construtivo e histórico, a gente buscava a autonomia dessas famílias. Nós vamos ter homens que trabalhavam dentro das caldeiras do agronegócio, onde produziam o veneno pros outros homens distribuírem no plantio de banana, melão, melancia, abacaxi, que era a produção que escoava pra exportação do agronegócio.
Quando a gente começou a estudar um pouco como é que a gente vai chegar pra construir um acampamento, foi um caminho muito difícil de ser trilhado. E a gente vinha com um exemplo muito forte da morte, que até hoje continua impune, do Zé Maria em 2010. Com o assassinato do Zé Maria, a gente sente essa necessidade muito maior. A gente não podia simplesmente deixar algo tão grave ficar esquecido. Foi algo que foi nos incentivando como a gente ia construir esses caminhos. Tivemos aí a construção do Movimento 21 de Abril, conhecido por Movimento 21, onde a gente vai ter todas as instituições e ONGs que estão dentro do Vale e de fora do Vale, na Uece, na UFC, que são grupos de pesquisa pra discutir sobre o solo da Chapada, livrando as pessoas do que estava acontecendo. O caminho que nós encontramos foi construir o acampamento, tendo em vista que as famílias viviam de trabalho escravo mesmo, não tinham horário itinerante, não tinham horário pra se alimentar…
Nessa construção, o que a gente percebia e ainda percebe: as mulheres como o ser mais violentado dentro do agronegócio. Porque são as mulheres que lavam as roupas dos homens que chegam do agronegócio. São as mulheres que cuidam sozinhas das crianças, porque os pais não têm tempo porque saem de madrugada e chegam à meia-noite. Então, não tinha o acompanhamento dessas crianças. Dentro dessa violação de direitos, a gente foi percebendo que a gente queria construir uma história onde as pessoas sejam livres. E, nessa perspectiva, a gente só encontrou um caminho. E a gente vem de militância, a gente vem de ocupação, o jeito era construir o acampamento junto ao MST.
Quando a gente constrói, inicia-se o processo, tem reintegração, os medos chegam, a Polícia chega. A Polícia quer bater. E a gente faz um processo de resistência e enfrentamento. A gente queria existir. A gente não queria só resistir quando a Polícia chegasse. A gente queria dizer pra sociedade que a gente existia. Dizer que existia era produzir, criar, estudar, trabalhar. Era sonhar. Diante de um sistema capitalista que cooptava as liderança e os homens para um trabalho análogo à escravidão, isso era um sonho. Era a utopia que nunca se aproximava da gente e a gente foi chegando mais próximo.
Então, hoje a gente vai contar dentro do acampamento com famílias que podem produzir banana como seu carro-chefe, porque foram educadas a produzir banana. Hoje, a gente consegue produzir outros tipos de frutíferas, criar animais… A gente vai criar galinha, pets, cachorro, gato, periquito, todos os bichos, porque vai no sentido da construção da diversidade. Construir essa diversidade, pra gente, era também construir uma história orgânica.
A gente passa pela transição da produção com o veneno pra produção sem o veneno. É um processo, que não é fácil porque a gente vai pegar pessoas que foram educadas a usar todos os dias glifosato. Cada um e cada uma que faz parte de uma empresa é educado a usar o veneno. Então, nós tínhamos um processo fundamental: era o de reeducar. E é um processo de educação pra todos os lados, porque a gente tinha que passar por um processo de como incentivar o não uso do veneno, mas também de aprendermos como colocar isso sem que as pessoas imaginassem como uma forma de imposição. O objetivo maior da construção do acampamento é mostrar pro mundo que dá pra produzir sem veneno e dá pra alimentar muita gente. Em meio à pandemia, nós fizemos distribuições inúmeras vezes de cestas de alimentos da produção orgânica e coletiva do acampamento.
 DEFENSORIA: Vocês contam com algum apoio? E como conseguem ajudar tantas famílias?
DEFENSORIA: Vocês contam com algum apoio? E como conseguem ajudar tantas famílias?
DAMIANA: A gente não tem apoio. No início, a Cáritas tinha um estímulo maior e a gente conseguia modelos de cursos orgânicos, de produção de plantio, de produção de fertilizantes orgânicos, de como usar o que já tem. Então, era um processo de aprendizado. Hoje, a gente não conta com nenhum tipo de incentivo. Nunca contamos com incentivo público. Como a gente consegue? Com muita dificuldade e, ao mesmo tempo, com muito amor.
Enquanto as pessoas choravam em plena pandemia que estavam centralizadas dentro do grande globo urbano e que se contaminaram mesmo sem ter proximidade umas com as outras porque as casas eram umas em cima das outras, a gente viveu o privilégio de poucas pessoas se contaminarem dentro do acampamento. Pela distância, por não precisarem ir tanto ao centro… A gente tem tudo o que a gente precisa. O que a gente não tem de cereais, a gente conseguia uma vez por mês, que era arroz, macarrão, cuscuz. O mais grosso, desde cheiro verde, cenoura, coentro, pimentão, pimentinha, feijão, milho verde, fruta, a gente tinha. Como a gente tinha, a gente não precisava ir toda semana na feira comprar.
Quando essa produção passa da nossa necessidade alimentícia e passa da escoação da produção enquanto venda, a gente percebe uma coisa: muitas pessoas não tinham o que comer na pandemia, como continuam sem ter. Então, o que a gente dizia: se tá além da nossa necessidade, a gente pode doar. A gente doou pra Fortaleza, pra Limoeiro, pra Pastoral Carcerária, pra Apae do município.
Nós fizemos uma distribuição simbólica no centro de Limoeiro do Norte, em frente à Câmara Municipal, de 200 cestas de frutas e legumes produzidos no acampamento. Porque, em uma semana, nos chamaram de vagabundos e vagabundas. Disseram que o que a gente produzia não mataria a fome de um macaco em um dia. Isso foi tão forte pra nós, enquanto agricultor e agricultora, que a gente queria dar uma resposta pra sociedade.
A gente não queria brigar. Porque diante da sociedade há uma criminalização muito grande dos movimentos sociais, um ataque muito grande ao MST e um ataque muito violento com as pessoas do acampamento. A gente foi lá e fez diferente. A gente foi lá e doou 200 cestas, assim como doamos pros dois hospitais de Limoeiro do Norte, doamos pro hospital de Quixeré e pro hospital de Tabuleiro do Norte. A gente conseguiu fazer em dois anos de pandemia o que a gente nunca pensou fazer em cinco anos de acampamento. Nós não tínhamos dimensão de que a gente era grande a esse ponto de matar a fome de quem não tinha comida pra nem uma vez por dia.
DEFENSORIA: Você disse que as mulheres são as mais violentadas pelo agronegócio. O movimento pelo direito à terra ainda é muito masculino e você é uma liderança feminina neste movimento. Como é ser uma mulher negra nesse contexto, considerando que o MST por si só, enquanto movimento social, trabalha numa perspectiva da coletividade?
DAMIANA: É algo tão difícil! Porque quando a dor chega ela tem cor. E a cor é, sobretudo, a dos nossos corpos pretos. Acho que a maior dificuldade da nossa vida enquanto mulher, e enquanto mulher preta, é quando você chega no sistema e percebe a forma do tratamento. Sou palestrante e ouço muitas vezes quando chego no evento o pessoal dizendo “cadê a mulher que vai dar a palestra?”. Porque as nossas histórias são invisibilizadas. Alguém se apropria da história e pode contar a tua história.
A importância da mulher é bem maior. É fundamental, sobretudo na luta pela terra, por uma vida digna e por uma moradia digna. A mulher é articuladora dessa construção. É a provedora do cuidado com a criança, de articular e construir. A mulher é fundamental na construção da luta pela terra e nos pensamentos. A luta pela terra não acontece só com homens. A gente precisa redistribuir essas atividades e esses processos de organicidade, porque sempre acaba ficando com as mulheres o processo de construir desde a alimentação, de cuidar das crianças, como prover uma estabilidade. A mulher vem no papel de lutadora, mas de construtora da história também e, sobretudo, de invisibilidade dentro dos movimentos sociais. Se a gente pegar três pessoas que se destacam, dois são homens. O destaque nunca é dado à mulher.
DEFENSORIA: Você considera a questão do agronegócio apenas ambiental? Como ela impacta na vida dos moradores do Vale e do acampamento?
DAMIANA: É um impacto muito maior do que a gente imagina. Nós temos uma professora, Giseuda Mendes, de Limoeiro do Norte, que faz uma pesquisa que está hoje numa revista alemã em que ela comprova a poluição no ar de Limoeiro do Norte com inúmeros tipos de veneno, inclusive o glifosato, que é proibido mundialmente.
O grupo Tramas, coordenado pela professora doutora Raquel Rigotto, da UFC, comprova em pesquisa científica o nascimento de crianças com má formação congênita. Ela vai comprovar que o aleitamento materno está contaminado com veneno. Dentro dessa pesquisa, é comprovado o maior índice de câncer do Ceará no Vale do Jaguaribe. Há um acréscimo tão grande que a cada pessoa que morre você tem que saber o que foi. E a maioria dessas mortes é causada por câncer.
Há uma controvérsia de que o agronegócio é isso ou aquilo. Pra gente, o agronegócio é morte. O impacto é no ambiente, na terra, em todos os seres que têm vida, sobretudo nos insetos, na lavoura, nas nossas vidas. Dentro de tudo isso, gera um impacto maior: o da violência no campo rural, onde está instalado o agronegócio. No livro de conflitos da CPT [Comissão Pastoral da Terra], isso fica comprovado. E o acampamento Zé Maria, no ano passado, entrou neste caderno de conflitos como pesquisa comprovada de violência a partir de ação da Polícia Federal, que cumpriu um papel com o agronegócio e ameaçou as famílias do acampamento. Dentro desse elo, não dá pra se pensar no agronegócio se não for ligado à morte. Porque ele vai com veneno, porque ele vai matar o solo, porque ele vai poluir a água, vai matar o peixe e vai matar todas as vidas que estão na terra. É morte!
DEFENSORIA: O Brasil ouviu recentemente de uma grande liderança política da esquerda que “agronegócio e meio ambiente andam juntos” e que o agronegócio não gera desmatamento, não gera morte nem gera problemas ambientais. Isso suscitou muitos debates. Considerando a realidade de vocês no acampamento, é possível?
DAMIANA: Impossível. Esse é um discurso que violenta ainda mais a gente. Se a gente pegar quem está dentro das áreas rurais, sobretudo dentro dos grandes projetos, é uma sucessão de violências que não dá pra quantificar. Ouvir que o agronegócio e o meio ambiente andam juntos, isso dói.
Eu costumo ir sempre no básico: se você pega a terra e ela gera, ela é mãe, ela é uma mulher, porque ela está gestando e, então, ela tem vida, mesmo que as pessoas me digam que não. Se o agronegócio joga veneno que mata em cima da terra, não dá pra pensar que caminha junto. Agronegócio mata meio ambiente, polui, envenena, tira vidas de verdade. Se o agronegócio anda junto do meio ambiente, por que se mata tanto ativista no Brasil? Inclusive, a gente acabou de ter duas mortes muito violentas, que foi do Dom Phillips e do Bruno. Quer exemplo maior do que irmã Dorothy, Margarida Alves, Chico Mendes e Zé Maria do Tomé? Se esses dois caminhos fossem lado a lado, essas pessoas não teriam tido ceifadas suas vidas em nome de um projeto que não é nosso. Se você visitar um plantio do agronegócio, ele vai colocar veneno antes de cortar a terra, depois que faz a dragagem da terra, arar a terra com veneno e colocar veneno na semente. Isso porque a semente já é híbrida, pra não poder reproduzir.
Essa construção do agronegócio é um debate que ninguém quer fazer por ter medo de morrer. Mas é um debate que não está centralizado aqui. Os venenos que estão proibidos mundo afora foram liberados no Brasil. Se o veneno foi proibido mundo afora porque mata, porque contamina e porque gera vários tipos de doenças, então não dá pra caminhar ao lado do meio ambiente. Como o agronegócio vai instalar dois mil, três mil, cinco mil hectares de terra numa grande produtividade pra exportação e não vai desmatar? Temos como exemplo o Tabuleiro do Norte, aqui vizinho, e eles estão usando correntão, que é algo tirado da história há muitos anos. É proibido o uso de correntão e eles estão usando correntão. Porque precisam derrubar as grandes árvores centenárias e a única forma de derrubar é usando os conhecidos correntões.
Não dá pra pensar que agronegócio e meio ambiente andam juntos enquanto tivermos famílias que se obrigaram a vender o pedaço de chão por não terem o que fazer, porque o veneno chega do plantio do agronegócio e o inseto se instala na lavoura da família. Nós temos exemplos disso aqui em cima da Chapada. A família não tem acesso aos bancos, a família não tem acesso a nada, inclusive não vai saber produzir. O que a família faz? Se sente obrigada a vender a única coisa que tem, que muitas vezes é uma casa de barro. Aí, a empresa oferece dez mil [reais] e diz assim: “eu comprei muito bem porque só valia cinco”. A gente não tem dimensão do tamanho que é essa projeção do capital.
Não existe a possibilidade de o agronegócio caminhar junto do meio ambiente. Agronegócio é morte! Agronegócio é tóxico! É veneno! O agronegócio não gera vidas. Ele tira vidas!
 DEFENSORIA: De que forma você vê solução a melhoria da qualidade de vida dos acampados? E como a Defensoria vem ajudando nesse processo?
DEFENSORIA: De que forma você vê solução a melhoria da qualidade de vida dos acampados? E como a Defensoria vem ajudando nesse processo?
DAMIANA: O único caminho é regularizar a terra. Regularizar no sentido de fazer assentamento. Um assentamento federal, mesmo que a gente não consiga acessar os direitos básicos e obrigatórios na lei, assegurados porque são prioridade, mas assentamento federal é fundamental. A gente vai ter prioridade na saúde, a gente tem prioridade na educação, a gente tem acesso aos bancos, você tem incentivo pra produção, você vai ter incentivo pras mulheres.
A gente tem dito sempre: o fortalecimento das mulheres camponesas é fundamental. E nós conseguimos construir isso historicamente. Hoje, a mulher é titular em todos os cadastros sociais. Essa foi uma conquista ao longo dos anos, de muitos movimentos sociais. Foi uma luta contínua. Isso foi muito forte pra gente. Então, quando a gente coloca a situação de ser um assentamento é também pensando onde nossas crianças estão, em qual território.
Hoje, o acampamento conta com crianças que vão estudar numa escola em outra comunidade e essas crianças sofreram repreensão. Inclusive, as próprias diretoras de escola, professoras e alunos diziam que elas só podiam entrar na sala de aula se lavasse o pé e a mão, porque tinha barro da Chapada. Imagine pra uma criança de cinco, seis anos de idade ouvir isso e o quanto que doeu! Tivemos que sentar e dizer: “não é assim”. Esse é o território que o barro tinge e esse é o território que essas crianças vivem e a gente está defendendo, acima de tudo.
O que melhoraria nossas vidas seria titularizar. Mas não titularizar individualmente, porque esse não é um projeto nosso e sim de um grupo que não pensa em pobre e que quer dizer que pobre não sabe o que fazer com terra. E nós estamos pensando no que dizer! Ouvi esses dias uma pessoa dizer que os acampados andam de moto e carro. Quem disse que a gente veio pra cá brincar? A gente veio pra cá produzir. E se a gente tá produzindo e tá vendendo a produção, a gente tem dinheiro pra comprar uma moto. Que sonho seria o nosso se todo trabalhador e trabalhadora conseguisse ter uma terra pra produzir e mudar de vida. Se cada um e cada uma tivesse uma moradora digna.
A gente ouve muitas críticas porque nossa casa é de barro, porque o piso é de barro e não tem cimento. Mas a gente fica imaginando o privilégio que é ter essa casa pra morar e se colocando na situação do outro e da outra que está em situação de rua porque o Estado negou esse direito. O que a gente precisa hoje no acampamento é que se regularize a terra, que se tenha uma construção coletiva de moradia digna. Porque é claro que a gente não quer viver a vida toda em casa de barro. A gente quer melhorar! Mas essa melhoria é nossa por direito porque é paga com o nosso dinheiro. O Estado tem um papel obrigatório. Não é um favor. Ele tem a obrigação de titularizar o acampamento, de tornar um assentamento e um assentamento com todas as vias necessárias pra gente viver. A gente não quer sobreviver. A gente quer viver e viver dignamente. Produzir, doar, vender, fazer o que der pra fazer na terra, porque o que a gente precisa mesmo é disso.
DEFENSORIA: A gente cresce ouvindo, e você deve ter ouvido muito isso, que MST é movimento que invade, que não produz, que ocupa terra que deveria ser usada pra outros fins etc. O que você diz pra essas pessoas diante do fato de o MST ser o maior produtor de arroz orgânico do planeta?
DAMIANA: Que alegria hoje a gente poder dizer que contamos com produtos da agricultura familiar e orgânica do MST nas prateleiras dos grandes supermercados do país. Quem mais produz alimento no Brasil somos nós, agricultores e agricultoras. A gente é responsável por 70% da alimentação que chega em todas as mesas do país. Porque o que o agronegócio produz ele exporta. Nada fica aqui no Brasil. Inclusive, nós temos multinacionais que quando a venda da banana não está no valor que elas querem, despejam o contêiner e jogam veneno em cima, pra ninguém ter o direito de pegar. Então, quem faz essa produção somos nós.
Nós conquistamos historicamente com os movimentos sociais que a alimentação que chega nas escolas 30% seja comprada da agricultura familiar. E isso as pessoas não sabem de quem surgiu. Não foi o Estado que foi bom. Nós ocupamos esse país de todas as formas, em todas as instituições, pra dizer que a gente precisava que isso acontecesse.
Eu fui criada ouvindo que MST era vândalo. E eu venho de uma ocupação! Eu venho de um assentamento de quase 30 anos, em Iracema, que foi uma ocupação de terra. Não foi com o MST, foi com o movimento sindical, mas foi uma ocupação. Não dá pra falar em MST sem apanhar em Iracema. Digo isso porque já fui expulsa de sindicato. A história é contraditória. Eu ouvi a vida toda, na minha infância e adolescência, que o MST era vândalo, que eram vagabundos, que movimento social não tinha o que fazer, que invadia terra. Movimento algum invade terra! A gente ocupa terra. Se a terra está lá, insustentável e sem produzir, a gente vai lá e dá função à terra. A terra tem uma função social, que é produzir. E produzir com qualidade. O que a gente tem feito historicamente neste país ocupando terra é dizer que a terra é pra quem nela trabalha. Nós vamos ter uma terra que não tem produção e nós vamos ter famílias passando fome nos centros urbanos ou inchando as comunidades rurais, a gente vai ocupar uma terra. Mas a gente não vai invadir. A gente vai ocupar e produzir. Nessa questão de produzir, a gente quer produzir limpo. A gente quer produzir sem veneno.
Paulo Freire tem uma frase que nos é muito forte: “quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor”. Então, nós fizemos um outro papel. A gente não quer ser o oprimido, mas também não quer ser o opressor. A gente quer ser quem dá de fato o que a terra precisa. A gente quer tirar o alimento, mas a gente também precisa deixar algum nutriente pra terra. Há uma necessidade de educação no campo, pro campo. Estamos falando de crianças, juventudes, adultos e adultas que saíram do campo pra estudar na cidade como produzir cana no sul, por exemplo.
Nós não fomos educados e educadas a produzir milho e feijão no nosso interior, no nosso território. E o que a gente está dizendo hoje? A gente quer produzir milho e feijão. A gente quer produzir arroz aonde der pra produzir. A gente quer produzir cana de açúcar. A gente quer produzir, inclusive, cachaça. Porque a gente não quer produzir por produzir. A gente quer dar um destino a essa alimentação. E dar um destino é processar, é multiprocessar, é vender, é trocar, é doar, seja o que seja. Dentro dessa produção, a gente quer se tornar grande. E se tornar grande não é um caminho fácil. É um caminho que vai ter muitos apontamentos. A mídia já faz isso todos os dias. Acho que o desafio maior hoje pra gente é fazer com que essa imagem chegue muito melhor.
Por exemplo: a gente fez com que Limoeiro hoje engula a gente e entenda que o acampamento tem respaldo nacional e internacional. Fazer parte do acampamento tornou- se um privilégio em algumas visões. Porque o acampamento se torna um laboratório de pesquisa pras grandes universidades, pras grandes instituições. Nessa caminhada, muitas pessoas foram passando e entendendo a necessidade de produção. A gente ouve hoje em alguns comércios de Limoeiro que começaram dentro de um quartinho, hoje têm uma grande venda de produtos de irrigação e o acampamento deixa dinheiro nesses comércios, coisa que as multinacionais não fazem. Nós, enquanto comunidade, contribuímos dentro da economia do município. Se a economia andar bem, o município vai ter um respaldo bem. Porque nós estamos deixando dinheiro lá.
DEFENSORIA: Você é filha de ocupação e hoje, mulher feita, também está em uma e é mãe solo. O que o movimento pelo direito à terra te ensinou? E que mundo você sonha pros teus filhos?
DAMIANA: Enquanto movimento, a gente se torna humana. A parte fundamental foi a humanidade, sabe? De ver com outros olhos tudo o que a gente nunca conseguiu imaginar. Eu vou pra um assentamento federal com nove anos de idade. A minha vida foi dentro da comunidade rural. A gente carregava água na cabeça! Era totalmente diferente do que a gente vive hoje. Tive uma infância sofrida, de passar fome mesmo! Dentro da Chapada, algumas pessoas ainda têm o que comer. Mas eu venho de uma região onde o plantio é de sequeiro, onde você tem que comer o ano todo o que você produz em poucos meses de chuva. Eu venho dessa comunidade nessa perspectiva do “onde eu quero chegar”. E foi um caminho tão difícil de trilhar, no sentido de que eu tive de deixar de estudar por morar em zona rural, tive que ouvir que sou negra do pé rachado, que negro de preto é o cão em forma de gente, que negro de amarelo não dá pra ser… Muitas vezes, isso vinha em forma de brincadeira. Mas a gente sabe que uma brincadeira, quando tem uma lágrima, ela tem uma dor. Ela deixa de ser uma brincadeira.
 Dentro dos movimentos, eu fui me moldando no sentido de ser humana. Fui trabalhar acompanhando catadores e catadoras, onde o choque foi muito maior. Da percepção de eu ter uma moradia pra dormir todos os dias e alguém não tem. De eu ouvir de um catador uma vez que ele precisava um real pra tomar uma pinga e ter coragem de comer um peixe poluído. Eu sempre fui, mesmo muito nova, muito mais madura do que se imaginava, no sentido de que eu não queria aquilo pra mim. E não estou dizendo no sentido de querer sair do campo. Não. Meu sonho sempre foi o campo. Tanto que eu poderia estar em outros espaços e continuo no campo. É onde eu me sinto bem. É onde me sinto gente. Nessa construção, eu venho passando pelo MAB, onde vou tendo uma vivência muito maior com pessoas e entendimentos. Foi onde me descobri feminista. Porque ninguém nasce feminista. A gente vai se descobrindo.
Dentro dos movimentos, eu fui me moldando no sentido de ser humana. Fui trabalhar acompanhando catadores e catadoras, onde o choque foi muito maior. Da percepção de eu ter uma moradia pra dormir todos os dias e alguém não tem. De eu ouvir de um catador uma vez que ele precisava um real pra tomar uma pinga e ter coragem de comer um peixe poluído. Eu sempre fui, mesmo muito nova, muito mais madura do que se imaginava, no sentido de que eu não queria aquilo pra mim. E não estou dizendo no sentido de querer sair do campo. Não. Meu sonho sempre foi o campo. Tanto que eu poderia estar em outros espaços e continuo no campo. É onde eu me sinto bem. É onde me sinto gente. Nessa construção, eu venho passando pelo MAB, onde vou tendo uma vivência muito maior com pessoas e entendimentos. Foi onde me descobri feminista. Porque ninguém nasce feminista. A gente vai se descobrindo.
Passei por um casamento muito dolorido. Foi onde eu percebi que, como mulher, eu não poderia ser aquilo que a sociedade queria. Eu tinha que ser aquilo que me fazia bem. Isso, no Vale do Jaguaribe, um terreno tão difícil de pisar e tão machista e racista, como foi difícil dizer “eu sou uma mulher negra feminista”. Por um período, eu fui escrava de uma chapinha porque eu não podia ter o cabelo crespo. Eu não podia ter o cabelo curto, porque eu vista era sapatão. Dentro desse caminho, eu vou me moldando dentro dos movimentos sociais e me construindo enquanto pessoa humana. De querer sentir a dor do próximo e da próxima. De perceber que essa não era a dor que eu queria passar mais, mas também não quero que outras pessoas passem. A fome que eu já passei, eu não quero ver ninguém passar. Mas a gente tá vivendo isso, infelizmente. Porque temos pessoas que só comem uma vez por dia.
Na minha infância, foi muito difícil. E durante muitos anos da minha vida, eu neguei esse quadro que vivi porque eu não sabia o que era isso. Eu não sabia que isso era negar a minha origem, era negar a minha história. E, depois, eu fui percebendo que a minha história não pode ser invisibilizada porque as outras pessoas querem. Porque eu quero chegar longe. E não é chegar longe no sentido de pisar, mas no sentido de dizer que eu quero chegar em algum lugar. E um lugar onde todas as pessoas podem pisar. Se toda pessoa branca pode ocupar as universidades, eu também posso. Então, ingressar na universidade pública aos 35 anos de idade é um sonho que se inicia. Eu sempre brinco com a turma dizendo que na colação de grau a lista de padrinhos e madrinhas é muito grande, sobretudo da comunidade LGBT, que é onde eu sempre tive muita acolhida e fiz esse acolhimento, porque comecei a perceber que essas pessoas já são muito marginalizadas, já têm muitas pessoas que apontam. Então, o que cada um de nós precisa é de alguém que dê um colo, muitas vezes nem que seja só pra chorar. Mas que o silêncio que muitas vezes a gente ouviu, porque a gente precisava silenciar e não chorar, esse silêncio não podia mais ficar preso.
Os meus filhos passaram e passam por processos e foram sendo criados dentro de outra construção, de uma outra história. De a minha filha dizer: “vamo fazer um bolo e levar para aquela mulher que tá morando na rua”. A fome que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Então, eu sempre digo pros meus filhos que eles também não podem ver as pessoas passar fome. Meu filho, aos 17 anos, diz que não quer ver as pessoas chorarem de dor na barriga. A minha filha diz sempre: “mainha, eu queria ter muito dinheiro pra comprar casas pras pessoas que não têm onde morar”. Acho que esse é o sonho de toda mãe: que o filho seja muito humano. E que essa humanidade consiga mudar, sabe? No sentido de tudo o que a gente vem passando, de uma desconstrução social, do preconceito.
A minha filha tem a pele um pouco mais clara. Um dia, no posto de saúde, uma pessoa perguntou se eu era babá. Porque eu tinha a pele mais escura. Isso dói. Por mais que a gente respire e deixe passar, muitas vezes a gente quer sair quebrando o barraco mesmo. Porque é assim que a gente visto: como barraqueiros. Porque o preto e a preta que quer se destacar é porque quer se amostrar, quer aparecer. Nunca é visto como alguém que quer ser gente. Tudo o que a gente quer é ser o que a gente é. Então, o meu sonho é muito maior: eu sonho com uma sociedade em que não exista o racismo, não exista a exclusão social. E que cada um e cada uma tenha o que comer e onde viver. Me dizem muito que isso é loucura. Mas eu prefiro morrer como a louca que sonha com o bem-estar de todo mundo do que ser alguém que não sonha com isso.
Tudo o que eu mais quero pra mim, é claro que o que a gente quer é estar bem, é ter acesso a um posto de saúde, que a gente consiga acessar as universidades, que a gente consiga tirar a juventude do crime, porque ela não está pedindo pra ir pro crime, está sendo empurrada. Acho que meu sonho é muito maior do que o que eu quero. Um lugarzinho, não só a terra, mas um território com sentimento de pertença pra gente colocar em prática tudo o que estamos aprendendo nessa caminhada: de produção, de construção, de cuidar um do outro. O meu sonho é isso: que a sociedade consiga ser muito mais humana, porque essa humanidade vem surgindo na caminhada mesmo. Os movimentos me desenharam alguém mais humana do que eu podia imaginar.
DEFENSORIA: Como se dá a dinâmica de vocês no acampamento? Vocês se reúnem? Ou alguém chega e só dá ordens?
DAMIANA: O acampamento está dividido no que a gente chama de núcleo de base. É um grupo de famílias que vai se organizando e tem um coordenador e uma coordenadora. Fazemos essa divisão pela questão da paridade de gênero. Temos hoje quatro coordenadores e quatro coordenadoras. Elas e eles se reúnem quinzenalmente e vão discutindo o que a gente pode melhorar.
Por exemplo: quando a Polícia Federal fez a ação truculenta aqui, como forma de jagunço mesmo, a gente teve que fazer um poder de articulação, uma discussão mesmo, sobre como a gente fecha a portaria, quem pode entrar, quem não pode entrar, como a gente faz a nossa segurança… A gente vai construindo. O que a gente diz de liderança comunitária, e a gente não precisa negar isso nem precisamos ser discretos e discretas, é que algumas pessoas têm uma forma de conduzir melhor, de puxar, de buscar etc. Então, essas pessoas acabam tendo um destaque. Nessa levada, vão se tornando líderes. Mas não no sentido de mandar e sim no sentido de levar a demanda de cada grupo e discutir. A construção vai se dando coletivamente.
Hoje, a gente tem um grupo de mulheres chamado “Mãos que criam”. São em torno de 17 mulheres que se reúnem quinzenalmente. Isso fora o grupo da coordenação do acampamento, que coordenava desde a construção de uma plenária, construção de um banheiro, limpeza dos canais etc. O grupo de mulheres coordena um espaço de conversa e as próprias mulheres vão produzindo feitas mensais para outra comunidade. Aí, vai ter mulher que produz comida, bordado etc. Eu mesma vendo semi joias, o que tem sido um processo de aprendizado.
DEFENSORIA: Como se dá a divisão do espaço? E como vocês têm acesso à escola e a atendimento médico?
DAMIANA: Nós, antes, morávamos em média a um quilômetro na beira do canal, de um lado e do outro, todo mundo em barracas de lona preta umas em cima das outras. E a gente foi percebendo que não dava pra ficar assim muito tempo, por uma questão de saúde também, de cuidados. E, aí, tinha outra coisa que batia em nossas cabeças: como a gente ia produzir se não tinha quintal? Então, numa grande reunião, a gente discutiu como iríamos produzir. Chegamos a um cálculo que dois hectares de terra, de imediato, daria pra gente produzir.
A gente foi pegando 30 metros de frente de cada espaço de produção de cada família, núcleo de produção. Em dois hectares, quanto dava pra produzir? A gente foi somando. Dava pra produzir tantos quilos de fruta, tantos quilos de legume, dá tanto por mês, dá tanto por ano; então, dá pras famílias viverem. Mas isso de imediato, não o definitivo. E assim a gente fez: dividimos em torno do canal, deixamos 50 metros do canal, que, segundo a lei das águas, é o que precisa pra estar distante da fonte da água. A gente respeitou esse critério pra ninguém pegar no pé. Nós ficamos a 50 metros do canal, com dificuldade na irrigação, mas a gente fez isso. Da frente da casa pro canal, a gente pode produzir plantio pequeno, como feijão, milho, jerimum, batata, macaxeira, essas coisas que são produção de tempos. E, pra trás, a gente podia plantar o que sentisse necessidade. O carro chefe vai ser a banana. Quase todos os quintais vão ter. Vão ser poucos os que não têm. Nem que seja dez metros, mas têm, porque a banana virou o símbolo daqui.
A princípio, nós ficamos sem ter acesso a nada de escola e atendimento em saúde. O que a gente fez: a gente ocupou as duas prefeituras dos dois municípios próximos, de Limoeiro e Quixeré, como um indicativo de dizer que a gente precisava ter acesso a esses espaços, porque eles são nossos e têm funcionários pagos com dinheiro da população. Então, a gente teria que ter acesso dignamente. A gente conseguiu conquistar dois ônibus escolares que passam dentro do acampamento fazendo o percurso. Temos dois horários, manhã e tarde. Busca e deixa as crianças. O que vem deixar meio-dia já leva os da tarde.
De atendimento médico, se a gente passar mal, tem que ir pro centro do Limoeiro. Se for uma demanda de quem tem pressão alta, diabetes, essas coisas, vai demorar um pouco, mas precisa marcar no posto de saúde do Cabeça Preta, que é onde atende à demanda. Porém, o acampamento, com o grande número de famílias que tem, a gente não tem atendimento de agentes de saúde, o que dificulta mais ainda a chegada ao posto de saúde, mas é onde a gente tem conseguido esse atendimento. Hoje, nós contamos com a construção de um espaço pequeno, com um quarto, uma sala e um banheiro pro atendimento de um médico, que a gente tem que pautar com o município, porque esse médico precisa atender dentro da comunidade pelo menos uma vez no mês, que é o que está dito na lei. Já tivemos isso durante um período, mas acabou que não temos mais.
 DEFENSORIA: Ainda sobre a relação de vocês com o agronegócio, existem muitas ameaças? Como se dá essa relação?
DEFENSORIA: Ainda sobre a relação de vocês com o agronegócio, existem muitas ameaças? Como se dá essa relação?
DAMIANA: É uma relação que não existe, de fato. Porque o agronegócio está representado por uma instituição chamada Federação das Associações do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. A Fapija é como se fosse a instituição que senta todas as empresas do agronegócio em cima da Chapada e por ela estar no domínio financeiro, de discussões de energia, de água, essas coisas. A Fapija é quem puxa a reintegração de posse na Justiça, puxada exatamente por essas empresas do agronegócio. Então, não existe uma relação. Existe um tom de ameaça. As famílias não conseguem dormir sossegadas porque elas temem o que pode acontecer.
É algo muito desgastante porque todos os dias a gente tem que ouvir que o agronegócio tem que acontecer e nós precisamos deixar ele existir. Dentro dessa história, o que tem pegado mais forte é que a gente sabe que o acampamento sofre reintegração de posse, está indo pra sétima reintegração de posse, pra dar lugar ao agronegócio, que nunca foi reintegrado mesmo estando em área invadida. E a gente ocupa pra produzir com limpeza.
DEFENSORIA: Não seria exagero, então, dizer que vocês vivem num clima de guerra…
DAMIANA: Sim, sim. Ainda ouço algumas pessoas dizerem que fulano é dono de empresa e amigo dela. A empresa não é amiga de pobre. Se a empresa fosse realmente amiga de pobre, estaria nesse grupo de pessoas que deixaria o acampamento existir. Não existe relação de amizade. Não tem relação nenhuma.
DEFENSORIA: Qual é o sentimento de vocês diante dessa iminência de uma expulsão? Como é esse cotidiano?
DAMIANA: Acho que nosso povo já não tem mais lágrima! Não dá pra fazer plano. Não dá. Um exemplo disso: eu tenho pé de baobá, que veio lá no Cariri, que ganhei no Terreiro das Pretas, e eu não consegui instalar lá no acampamento porque eu tenho muito medo de perder o meu baobá. Ele fica lá, num balde grande, e eu vou sempre arrumando pra não perder ele.
Existem dores. E a dor mais profunda é a incerteza se amanhã a gente vai estar e se a gente vai conseguir tirar nossas coisas e se vai tirar tranquilo. Porque a exemplo de outras reintegrações que a gente tem visto nesse período, são ações truculentas. A Polícia bate mesmo. Agride, mata. A gente tem morte todos os dias do nosso povo, principalmente do povo indígena, né? Então, é dessas ações que a gente tem medo: de que a Polícia chegue numa madrugada, que bata, que mate, que nossos idosos não consigam sair, que nossas crianças não consigam sair…
As incertezas são tão grandes que quando você começa a falar com as famílias elas só dizem uma coisa: só querem chorar. Porque você não sabe como vai ser amanhã. Então, há uma grande preocupação de como a gente vai ficar. E muitas lágrimas.
DEFENSORIA: E como se dá a relação de vocês com o poder público? Ou também não tem esse diálogo?
DAMIANA: No primeiro ano de acampamento, a gente até conseguiu fazer o que a gente chamava de GT, que eram grupos de trabalho pra construção do acampamento. Isso em 2014. Nós avançamos em ter reuniões em 2015, mas não avançou mais porque em 2016 a gente sabe que teve o golpe e nada andou mais. E logo em seguida tivemos um outro golpe que foi a eleição do Bolsonaro. Nesse caminho, o que de fato aconteceu foi que ficamos presos ao que tinha acontecido e ao atual Governo e não conseguimos caminhar. O que a gente conseguiu? A gente tem uma articulação com a Defensoria Pública do Estado e com a Defensoria Pública da União, que nos recebem, mas não resolvem o problema porque não são Poder Executivo.
O Ministério da Integração, que deixa de existir, junto com com a SDA, junto talvez com o Dnocs e o Incra, esse grupo poderia ter pensado na construção pra deixar de ser acampamento pra se tornar assentamento. Mas não é do interesse de quem está representando essas instituições. A militarização e a criação de personagens contra a pobreza, porque, na verdade, é contra a pobreza, tem criado um estudo que não permite a gente se aproximar. O que a gente consegue hoje chegar é na Defensoria do Estado e da União e nas rádios, televisões. Mas, por exemplo, a gente não consegue de fato ter uma conversa direta com os prefeitos. Nós tivemos uma conversa com o prefeito de Quixeré no ano passado. E só. Eles não nos recebem. Esse ano, a gente não conseguiu. Nos primeiros anos de acampamento, a gente conseguia falar com os prefeitos porque a gente ocupava as prefeituras. Na pandemia, a gente não consegue fazer uma ocupação e nem podíamos fazer uma ocupação. Seria irresponsável e, inclusive, ilegal. Então, por não conseguir fazer uma ocupação, a gente não conseguiu pressionar para que eles nos recebessem. O que de fato contribui pra nossa proteção hoje é a universidade pública, são as escolas, são as defensorias…
 DEFENSORIA: O que diferencia o acampamento do assentamento? É a propriedade da terra?
DEFENSORIA: O que diferencia o acampamento do assentamento? É a propriedade da terra?
DAMIANA: Também. Quando você é acampamento, não tem uma definição de como você vai trabalhar, quanto você vai delimitar enquanto área coletiva, não pode ainda definir área de preservação permanente… Você chega e ocupa, embora existam algumas normas, porque senão vira balbúrdia. Nessa dinâmica, a gente vai se articulando, construindo regimento interno, o que pode, o que não pode, por que eu não posso entrar no quintal da vizinha… A gente vai construindo pra ter uma vida saudável. Porque acaba todo mundo sendo uma família.
Por que a gente briga pra ser assentamento? O Estado seria responsável pela água, pela energia, saneamento básico. A gente não tem um transporte que carrega lixo e rejeito. As mulheres fazem o trabalho de reciclagem ao fazerem a coleta da reciclagem e entrega a reciclagem pra um atravessador. Mas não tem coleta de lixo e rejeitos, o que nos obriga a fazer queima. Quando for assentamento, a gente vai ter água, energia, a gente vai pautar a cisterna, porque a gente que vive no semiárido precisa de cisterna, e a terra em si. O assentamento vai poder dizer que é proprietário daquela terra e as famílias vão poder trabalhar tranquilamente, sem ter risco de uma reintegração de posse.
Quando você se torna assentado, você tem alguns critérios de prioridade. O assentamento federal está na terceira linha de prioridade. Primeiro são as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, assentamento federal e depois o assentamento estadual. Para o assentamento estadual, a lei diz que você tem que ter direito à saúde, inclusive ao acompanhamento de pelo menos uma vez ao mês de um médico; à educação, com o currículo adequado à nossa realidade. A gente quer mostrar que a agricultura é viável! Ela é viável não, ela é fundamental à nossa existência. Não dá pra existir sem ter agricultura. O que a gente tá querendo dizer é que nós vamos ter acesso aos bancos. Porque a partir que eu tenho uma carta de anuência, uma declaração de beneficiário do Incra, ela diz que sou agricultora e que eu produzo dentro do assentamento. Se eu tenho uma linha chamada de assentamento, que eu sou assentada, eu tenho prioridade em entrar nos bancos pra linhas de crédito específicas. Ou seja: deixar de ser acampamento para ser assentamento seria o estado reconhecendo a posse da terra como nossa e, consequentemente, nos provendo de todos os direitos constitucionais.
DEFENSORIA: É uma insegurança jurídica grande…
DAMIANA: É. E a gente vive num constante medo, sabe? Nós estamos num território em que falar do agronegócio é dizer “me mate”. Há todo um questionamento porque a gente não quer morrer. A gente quer viver. E viver dignamente. Mas a gente vive com medo porque a gente sabe quem são nossos inimigos, mas não sabe quem pode querer se infiltrar.
DEFENSORIA: Dentro do movimento, como você sente a capacidade de mobilização? As pessoas têm esse entendimento? Porque se fala que há muita massa de manobra, que é questão eleitoreira, que muitos ocupam terreno pra venda etc.
DAMIANA: Olha, com sinceridade, quando a gente acampou, até existiam famílias que depois disseram que iam vender. Mas aí a gente disse: “não, camarada! A gente quer terra pra trabalhar. A terra tem que estar nas mãos de quem nela que produz”. Quando as pessoas perceberam que era isso, muita gente foi embora. A gente começou com mil e oitenta famílias dentro do acampamento. Hoje, a gente tem quase cem. Muita gente foi embora porque eram exatamente essas que tinham esse pensamento. Nós não queremos quantidade. A gente quer quantidade. Queremos pessoas que acreditem na terra como um direito de viver. E não é só viver por viver. A gente quer viver dignamente. Nessa perspectiva, a gente não vai ser massa de manobra.
Pra nós, quem está hoje dentro do acampamento é porque acredita na luta. A gente até tem gente que não acredita no movimento. Não acredita, mas não vai embora. Então, se não acredita no movimento e não vai embora, deve ter alguma credibilidade. Porque senão já tinha saído de lá.
DEFENSORIA: E não é uma luta fácil, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que vocês estão ali só de brincadeira…DAMIANA: A imagem que cria é que a mulher camponesa não pode estudar. Então, eu tive que enfrentar muita batalha pra dizer que ninguém manda em mim e ninguém vai podar minhas asas. Eu vou voar! E eu vou estudar. Eu tive que ouvir muito discurso de que mulher depois que arruma filho, casa e não tem que estudar. E eu tive que enfrentar isso e dizer: “não! Eu tive filhos, eu tenho um companheiro, mas não morri”. Eu estou viva e vou estudar, sim. Por eu ser técnica de campo, é como se eu tivesse que me tornar a esposa recatada que trabalha dia e noite dentro do campo. E não é essa imagem que eu quero. Não é isso que eu sou. Eu sou alguém que eu quero voar! Mas voar no sentido de ajudar outras mulheres. Eu estou contribuindo com outras mulheres, no sentido da libertação mesmo! As mulheres vivem aprisionadas dentro de um sistema patriarcal, estrutural, que já está estruturado nas nossas cabeças. Nas palestras que eu dou, elas me dizem que se encontraram na minha história, mas não tiveram a mesma coragem que eu.
Essa Damiana dentro do campo e a Damiana que dá palestra, pra muita gente, é como se houvesse uma divisão. Por eu não estar dentro do campo direto, é como se eu deixasse de ser camponesa. Eu continuo sendo camponesa, só não preciso estar todos os dias dentro do campo. Mas a defesa pela terra, o trabalho que eu faço, isso ninguém tira de mim. Mas eu ouço muitas pessoas brincarem com a história de que a gente só vive de fazer foto. Mas não é só foto! É muito mais isso! Os quintais que eu faço limpeza, os quintais que eu produzo, os quintais que eu ajudo a produzir, além do acampamento, quando eu estou em assistência técnica, eu estou ajudando famílias e inclusive tenho que pegar na enxada. Então, eu não deixei de ser agricultora.
Eu costumo brincar dizendo que eu apenas sou uma agricultora formada, porque eu sou técnica. Mas, mesmo sendo uma mulher preta que sofre muito preconceito, porque eu sofro demais preconceito, ainda me coloco na situação de uma mulher privilegiada, por ter conseguido ingressar na universidade, bater de frente com a família e dizer que eu vou estudar. Porque eu sei que não é fácil. Não é. Nós, mulheres, não somos educadas a enfrentar ninguém. E esse enfrentamento tem sido muito mais necessário do que o que a gente imaginou. Eu já estive em comunidade que fui expulsa de uma das casas pelo marido me dizendo que não me queria mais por perto porque a mulher começou a brigar com ele depois que me conheceu. Segundo ele, minha influência foi ruim. Mas ela me disse que depois que conversou comigo percebeu que até estuprada foi e não ia aceitar mais isso. Eu já recebi ameaças de homens, de ele chegar e dizer: “se você falar besteira pra minha mulher de novo, eu te mato”. Se está incomodando, é porque eu tô certa. Se não tivesse incomodando nenhum homem, eu estaria errada.
DEFENSORIA: Se entre vocês é assim, imagino que do lado de lá, do agronegócio, seja um contexto ainda mais masculino e machista com o qual vocês, mulheres, tenham que lidar…
DAMIANA: Sim. As mulheres sofrem muito exatamente por isso. O que aconteceu dentro do perímetro irrigado, que já teve alguns espaços para pequenos irrigantes e eles tiveram que vender. Não tinha o que fazer. Você não tinha acesso a banco, não conseguia produzir, a lavoura tava cheia de inseto, o que é que tu faz? Tu vende! Foi o que aconteceu em muitos perímetros. Porque é esse o modelo do capital: dizer que pobre não sabe o que fazer com a terra. E aí quem sofre com esse “o pobre não sabe o que fazer com a terra” somos nós, mulheres. Por mais que o homem saia pra prover o alimento, somos nós que vamos ter que sair procurando onde morar e como cuidar do filho com pouco dinheiro. Somos nós, mulheres, que vamos ouvir as crianças pedirem alguma coisa e a gente não ter pra dar. Esse modelo do agronegócio é muito machista e muito excludente. Então, é toda uma desconstrução. E uma desconstrução que não foi pensada pra gente.
Dentro do agronegócio, você não vê mulher branca no meio do campo, no meio do sol quente. E até vê as brancas do extremo da periferia, mas normalmente nas funções de secretária, no galpão. Mas não no meio do sol. Quando a mulher é preta, é lá que ela está: no sol. Nunca foi pensado um quadro em que as mulheres estejam incluídas. Quando nós fomos furando essa bolha e nos incluindo na história, nós fomos separadas por cores. É muito difícil o acesso da mulher preta em alguns espaços. Todos os dias eu tenho que enfrentar isso. Tem dia que está tão na cara que eu nem ligo mais. Digo: “tá bom, mas vou entrar do mesmo jeito”. Eu já estive canto que me disseram que eu não poderia entrar enquanto não lavasse o pé. E eu disse: “não, eu ando descalça ou de sandália de couro. E eu vou entrar onde qualquer outra pessoa entrar”. Existe uma divisão. Nossas cores nos dividem socialmente.
 DEFENSORIA: Você sente essa divisão dentro de sala de aula também?
DEFENSORIA: Você sente essa divisão dentro de sala de aula também?
DAMIANA: Sim. A minha turma é só de mulheres e hoje tem uma pessoa LGBT. Mas são mulheres evangélicas, conservadoras, machistas e fascistas, em sua grande maioria. Brancas. E as que são pretas também acabam sendo tudo isso, porque são evangélicas e têm o conservadorismo na ponta da língua. Não tem sido nada fácil, mas eu tenho dito todos os dias: “no dia que eu não incomodar vocês, eu vou sair porque não tá bom”. Eu só sei que estou agindo certo quando incomoda alguém. Sabe por quê? Porque nós somos educadas a sermos silenciadas. Quando eu silencio, tá ótimo pra todo mundo. A gente quer quebrar as cercas desse patriarcado, desse sistema patriarcal que nos divide. É dizer que a mesma qualificação que uma mulher branca tem, eu, como mulher preta, também tenho. O mesmo espaço que ela vai ocupar socialmente, eu também posso ocupar.
Todos os dias eu sofro preconceito. Nem que seja apenas a brincadeira com o cabelo. Nem que seja porque você tem cara de sapatão. Eu levo na brincadeira, mas tem dias que não consigo mais discutir. Porque todos os dias eu tenho que ouvir que meu pé tá sujo, que meu pé tá rachado, que a minha roupa é de homem, que meu cabelo é de homem. A vida já foi tão dura comigo, tão dura, que eu aprendi a criar uma placa, sabe, pra não me atingir mais com isso. Eu tive que passar até violência sexual na minha infância. Até alguns anos atrás, eu não conseguia falar que fui violentada sexualmente na minha infância. Eu tive que aprender a lidar com isso e entender que, pra que outras mulheres não sejam, eu tinha que falar. Eu não sabia o que era violência sexual. Eu não sabia o que era abuso sexual. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas hoje eu sei, faço parte do Movimento de Mulheres do Vale, e a gente tem trabalhando no processo de desconstrução disso, contribuído com denúncias e buscado a Casa da Mulher Cearense pra cá, pra que a gente consiga proteger essas mulheres.
Não dá pra gente dizer que a mulher precisa deixar aquele homem que tá batendo nela se a gente não tem onde colocá-las. Porque é pros braços desses algozes que elas voltam. E, quando a mulher é camponesa, ainda sofre mais. Porque o discurso com a mulher da cidade não é o mesmo com a mulher do campo. Digo porque passei por isso. Quando fui denunciar um violador, eu fui muito mais torturada do que durante a ação que tinha acontecido. E olhe que sou uma mulher adulta e politizada. Porque diante de muitas mulheres, eu ainda estou numa situação de privilégio. Mesmo com todos os preconceitos que eu passo, me considero uma preta privilegiada. Porque pude viajar, eu pude entender o mundo, conhecer outros lugares, outras culturas totalmente diferentes e me conhecer, antes de tudo. Esse me conhecer foi fundamental no sentido de que caminho eu quero. E não foi do caminho que as pessoas dizem que alguém nasceu pra ser ruim e alguém nasceu pra ser bom. Ninguém nasceu pra isso. A gente se tornou o que a sociedade quis. Então, nessa caminhada, eu consigo erguer minha voz e dizer que não vão me silenciar. Mas muitas mulheres são silenciadas. Em sua grande maioria, são silenciadas. Até a morte. Até que a morte chegue, são muitos tapas.
DEFENSORIA: Quando você diz que o discurso pra mulher da cidade é diferente do discurso pra mulher do campo, o que isso significa? Diferente em que perspectiva?
DAMIANA: Primeiro que as mulheres camponesas dificilmente vão conseguir ir pra uma delegacia fazer uma denúncia. E, quando chega lá, é exposta diante de todo mundo. Digo porque passei por isso e, mesmo sendo um problema com minha filha, eu fui desacreditada pelo delegado. Tive que dizer na frente de todo mundo o que tinha acontecido e quem tinha sido. Ouvindo o depoimento da outra moça, não foi constrangedor como o meu. O discurso é diferente. Mas uma coisa é verdadeira: os corpos femininos foram criados de uma forma que pode levar, sabe? Pode apanhar, pode sofrer. São só corpos. E digo com muita propriedade aqui do Vale: somos só corpos e as pessoas pensam que podem fazer o que quiserem, que não vamos fazer nada.
Quando eu coloco essa diferença da mulher urbana e da mulher rural, a mulher urbana ainda consegue argumentar. E a mulher da zona rural só faz uma coisa: silenciar e sair chorando. Porque ela não consegue falar. Porque nós não fomos educadas a discutir sexualidade. Porque o estudo tem sido criado como algo que tem que ser naturalizado dentro de casa e ninguém tem que saber. A abordagem na delegacia é diferente. Porque há um tabu e há uma dor. Nós fomos criadas de uma forma totalmente diferente. É silenciar mesmo! Nosso lugar é na cozinha. Dificilmente você vai ver uma mulher de campo abrindo a porta quando tem visita, mesmo sendo uma nova geração. A geração até o final dos anos noventa é totalmente diferente. A gente não vai conseguir ter essa fala, ver com propriedade o que quer, o que aconteceu e argumentar que tem que ser respeitada.
E a gente ouve todos os dias isso de “será se foi isso mesmo?”. Todos os dias. Eu tive que ouvir isso. E confesso que já tinha me doído muito quando soube de outras pessoas, mas quando foi comigo foi tão agressivo. Pensam que a gente é louca, desequilibrada, que isso não pode ter acontecido, que o agressor é um homem de fé, que é temente a Deus… A dor de ser abusada é muito grande. É uma dor que nunca vai sair. Mas acho que a dor da exposição gera duas dores. Porque é dito que aconteceu porque a gente quis, porque eu tava de saia curta, porque eu podia estar em casa, porque você bebeu.
Eu faço palestra, dificilmente ganho algo por isso e as pessoas questionam por que eu continuo. Mas vou para poder falar de violência, do direito da mulher e das crianças. Porque a gente precisa fazer com que o mundo entenda que os meninos também são abusados sexualmente. E é uma dor que tem que ser acobertada pra não perder a virilidade. Então, esse menino tem que ser um homem que nunca foi tocado, mesmo que a gente saiba quantas dores eles têm. Então, quando tudo isso ocorre, a gente tem que ter um papel na sociedade. Mas eu sei que falar de violência doméstica, sexualidade e abuso sexual no Vale do Jaguaribe é quase dizer “me mate”. Mas eu preciso fazer com que outras não passem pelo o que eu passei e pelo o que minha filha passou. Eu já fui orientada por uma advogada a não falar que tinha sido abusada porque o delegado ia entender que eu estava criando uma história na minha cabeça pra dizer que minha filha tinha passado pela mesma situação. É muito doentio. É muito violento! E nós estamos em terra de pistolagem. Que as pessoas ganham cem reais para descarregar uma arma na cabeça de outra! O que aconteceu com tantas e tantos até agora não foi à toa.

Defensoria Pública do Estado do Ceará
Av. Pinto Bandeira, nº 1.111, Bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza – CE, CEP 60.811-170.
Telefone: (85) 3194-5000
Defensoria Pública Geral do Ceará 2025 | Política de Privacidade