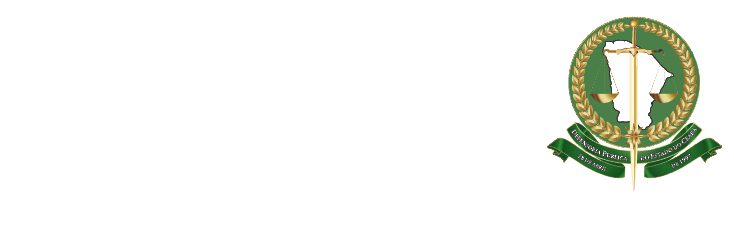“Cresci com uma inquietação de entender tanta disparidade entre a riqueza, que era natural, e a condição de vida do povo. A gente vai mudar o mundo por dentro das organizações, criando uma outra estrutura de sociedade, porque a que temos não nos inclui.”
Antônia Araújo
45 anos.
Professora, membra do Movimento Negro e ex-ouvidora geral externa da DPCE.
Nascimento: Altaneira (CE).
Atuação: Fortaleza (CE).
“Prometi que por onde eu fosse levaria os meus”
O campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi, em Fortaleza, foi o lugar escolhido por Antônia Araújo para acontecer a entrevista que você vai ler alguns parágrafos abaixo. Dada a trajetória de vida dela, a conversa tinha mesmo de ser num ambiente acadêmico. Porque esse espaço é porto seguro, propenso aos autodescobrimentos e revolucionário para qualquer pessoa que dele consiga tirar proveito, sobretudo, quando se é uma mulher negra, como ela.
 Por saber disso, Antônia respirou fundo e compassou a fala tantas vezes para dar conta de responder a todas as perguntas da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) sobre como é ser um corpo dissidente em um espaço masculino, branco e de pessoas com alto poder aquisitivo. Esse perfil de gente é diametralmente oposto ao dela, uma sertaneja filha de agricultores e cujo destino estava fadado aos arados de terra não fosse a teimosia de replantar a si própria noutros terreiros, o das palavras.
Por saber disso, Antônia respirou fundo e compassou a fala tantas vezes para dar conta de responder a todas as perguntas da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) sobre como é ser um corpo dissidente em um espaço masculino, branco e de pessoas com alto poder aquisitivo. Esse perfil de gente é diametralmente oposto ao dela, uma sertaneja filha de agricultores e cujo destino estava fadado aos arados de terra não fosse a teimosia de replantar a si própria noutros terreiros, o das palavras.
Numa fase mais delicada dos arruamentos, Antônia chegou à Uece acompanhada da filha. Ambas vestidas de sorrisos, aguardavam o início das gravações em um dos corredores mais concorridos do campus, uma reta comprida e cheia de “mediciners” e gatos. A entrevistada, ainda surpresa com o convite para compor o especial “Todas somos uma”, oscilava entre o nervosismo, a ansiedade e a completa desenvoltura. No fim, falou bem. Falou bonito. Afinal, é estandarte da própria história.
Antes das gravações, visitou a biblioteca, passeou por algumas pracinhas dos blocos, admirou a entrada do departamento de pesquisa ao qual pertence por cursar uma especialização na sua área básica de formação, a Geografia, e acenou até para (des)conhecidos, do segurança ao vendedor ambulante. Estava feliz.
Falou na sombra de uma árvore frondosa na qual também descansavam cachorros com gasta esperança de dali saírem algum dia para um lar adequado. E disse tudo sob os olhares atentos da primogênita, ora ao derredor ora sentada no chão, muito mais para aprender através dos ensinamentos da mãe do que propriamente para acompanhá-la.
Ex-ouvidora geral externa da DPCE (2019-2021), Antônia brilha o olho quando fala do poder transformador dos movimentos sociais – a quem atribui caráter salvador da própria vida – e da docência. À época da entrevista, uma tarde de setembro de 2022, ela não tinha como adivinhar que hoje, com 2023 caminhando, seria professora concursada da Prefeitura de Fortaleza. A notícia veio três meses depois, como um presente do fim de um ano desafiador e prelúdio de uma capacidade de ir e levar outros consigo para o surgimento de um mundo melhor.
Antes “só” Antônia, agora ela é, de fato e de direito, “professora Antônia”. Alguém que no começo da conversa até pode oferecer frases tímidas. Mas que se avoluma conforme novas palavras lhe atravessem o corpo. Foi assim quando da hora de interagir com a câmera do repórter fotográfico ZeRosa Filho e nos primeiros minutos do bate-papo com a câmera ligada.
Confira a entrevista.
 DEFENSORIA: Antônia, gostaria de começar nossa conversa pedindo pra você se apresentar nos seus termos e já falar um pouco do começo da tua trajetória no Cariri…
DEFENSORIA: Antônia, gostaria de começar nossa conversa pedindo pra você se apresentar nos seus termos e já falar um pouco do começo da tua trajetória no Cariri…
ANTÔNIA: Meu nome é Antônia Araújo, sou professora, tenho 44 anos e sou natural de Altaneira, no Cariri cearense. Eu nasci na zona rural da cidade, mas vivi muito pouco lá. Sou filha de agricultores. Meu pai e minha mãe são agricultores até hoje. Estão aposentados. E a gente tem uma relação muito forte com a questão da terra. Não só porque eles são agricultores, mas porque eles são agricultores que não tiveram acesso à terra. Então, a minha infância é marcada, sobretudo, pela raça, pela falta da terra e pela falta da água pra produção.
A gente morava numa cidade, na qualidade de meeiro, como era o meu pai, e não tinha como a gente continuar lá. A família estava crescendo e eles resolveram migrar para o Crato. Minha mãe, inclusive, é do Crato. E, aos dois anos, minha família me levou para morar no Crato. E aí começa um grande paradoxo na minha vida, porque lá sim nós tínhamos acesso à água. Poderíamos ter, já que a gente morava ali no pé da Chapada. Só que a gente também era privado de água porque na região do Cariri, naquela área, que tem tanta riqueza natural, as pessoas não têm tanto acesso à água assim. Porque a água é do dono da terra. Como a gente não tinha terra, a gente continuou sem a terra. Mas o meu pai e minha mãe lutaram bravamente pra nos criar nesse espaço, com muita dificuldade. Eu cresci com uma indignação em relação a isso. Eu perguntava: por que, afinal de contas, tanta riqueza na floresta e as pessoas vivem nessa condição?
Por mais que não soubéssemos a origem dessa condição, a gente sabia que tinha alguma coisa errada. E eu fui crescendo com a vontade de estudar esse fenômeno, sobretudo estudar a Floresta Nacional do Araripe. E eu fui pra universidade. A gente morava na zona rural e o ensino médio era na cidade. Então, a gente se deslocava à noite. Não tinha escola fácil. E, quando tinha escola fácil, não tinha ônibus toda hora que a gente queria ir. Era três vezes no dia: de manhã, meio-dia, voltando, e de tarde. E isso me incomodava bastante.
Naquela época, eu comecei, no finalzinho do ensino médio, a entrar pro movimento estudantil e pra o sindicato dos trabalhadores rurais, já na juventude. O meu pai é do sindicato. Ele era sindicalizado desde a época dos anos 1970. Ele pega o finalzinho ali da Ditadura, fazendo as formações no sindicato com toda aquela ameaça que tinha ainda por conta dos atos institucionais. Ele consegue fazer o trabalho dele, fazer o processo de organização e aí a gente vai dialogando sobre a realidade de sofrimento do povo nordestino, porque não era uma realidade só nossa mas de muitos de nós.
Quando eu começo a militar, a minha mãe não aceita muito. Ela não gostou muito da ideia. Porque pra ela era assim: “vocês vão estudar”; “vocês não podem ter a mesma vida que a gente teve”; “vocês precisam estudar e romper com essa história que a gente tá trazendo de outras gerações”. Mas, mesmo assim, ingressei no movimento de trabalhadoras e trabalhadores rurais, um sindicato lá no Crato, junto com um grande colega, amigo e companheiro.
Eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade. Não por acaso, eu fui pro curso de Geografia. Essa inquietação de entender por que tanta disparidade entre a riqueza, que era natural, e a condição de vida do povo. Lá, eu passei os quatro anos também militando. Foi quando eu ingressei, no finalzinho da minha graduação, no Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiada ao partido. Isso, a gente já está falando de 1996. Eu tinha certeza que tava tudo errado e a gente tinha que ter uma esperança de consertar, seja por meio da política, fosse por meio do estudo, fosse como fosse, a gente precisava romper com aquela história de violência contra o nosso povo, contra aquelas pessoas e eu me incluía naquelas pessoas. Obviamente, ainda me incluo.
Então, a partir daí, eu começo a me aproximar também de um outro movimento e a discutir uma outra questão: a situação das mulheres. Porque se a gente for prestar atenção, nas comunidades, as pessoas organizam a vida e buscar água é uma tarefa muito das mulheres. É uma tarefa que as pessoas diziam que era simples, era doméstico. Só que tem o peso, as mulheres carregam água na cabeça, e tem o risco no deslocamento de ir até a nascente e retornar e sofrer alguma violência sexual. Fora as outras inúmeras coisas que nós começamos a questionar.
Depois que eu saí da universidade, vou trabalhar numa instituição chamada ACB, que é a Associação Cristã de Base, que trabalha com agricultores. É um grupo oriundo ainda das Comunidades Eclesiais de Base, um grupo de militantes muito forte que tem lá no Cariri e criaram uma organização para trabalhar com agricultores e agricultoras familiares. E lá eu comecei a falar sobre educação, educação não discriminatória, a questão de gênero, principalmente. Nós não falávamos muito sobre mulheres, querendo fugir da binaridade mas sem saber como. A gente estava muito preso nas discussões iniciais. A ACB forma vários coletivos de juventude, de mulheres… Foi um momento muito rico da minha vida, de experiência, onde eu disse: eu preciso entender como funciona essa estrutura e eu acho que é por aqui que eu acho que a gente vai mudar o mundo: por dentro das organizações, por dentro dos movimentos, por dentro dos partidos políticos e criando uma outra estrutura de sociedade porque essa sociedade não nos inclui.
Até então, eu não tinha me deparado com a questão do racismo. Eu sabia que havia uma opressão na sociedade, mas não sabia exatamente por que era tão difícil uma pessoa como eu conseguir uma bolsa na universidade. E você sabe o que era a universidade antes do Governo Lula e do Governo Dilma…
DEFENSORIA: Você disse que a sua vida foi marcada pelo acesso à terra e pela raça. Como foi que você se descobriu uma pessoa negra? Existia essa discussão em casa? Como foi o teu despertar pra tua negritude?
ANTÔNIA: A gente não discutia isso dentro de casa. Nós falávamos de acesso à terra, da dificuldade de água. A gente sempre falou muito de política dentro de casa. Só que discussão de raça nós não tínhamos. Eu, por exemplo, vim me dar conta que aquilo que eu sofria na universidade e noutros espaços era racismo a partir do momento em que, já estando na ACB, um grupo de militantes já mais organizado me chama pra criar o Grupo de Valorização Negra do Cariri. Eles já tinham feito uma primeira reunião e na segunda eu já me integrei.
A ideia que a gente tinha era de que não existe gente negra no Cariri. Só que nem nos olhávamos, né? A partir do momento em que a gente vai entendendo, vai começando, vai fazendo aqueles os estudos iniciais, vai se percebendo, vai dizendo: não, contaram a história errada pra gente porque não é bem por aí. Afinal de contas, o que sou eu? Se isso não for racismo, isso é o que, afinal de contas?. E aí a gente vai conseguindo elaborar melhor esse processo de discriminação e é onde fecha o quadro mesmo. A gente entende que não é só um preconceito, uma discriminação. Eu tinha por volta de 22 anos.
Na minha infância, meu cabelo sempre foi muito armado, muito grande. E quando a gente viajava meus pais diziam: “você penteie o seu cabelo”. E eu ficava: “como assim?”. Na escola, o povo sempre fazia questão de prender. Diziam que tava tendo muito piolho e minha mãe sempre amarrava. Era um negócio que doía e hoje eu tenho pavor de botar qualquer coisa na cabeça justamente porque era muito puxado. Mas a gente não sabia o que era. Não nos foi dada a oportunidade de discutir sobre raça desde a nossa infância, porque senão a história era outra, completamente diferente. E não deixa de ser um susto quando a gente se dá conta de que o que a gente viveu é racismo.
Eu sempre comparo, quando a gente tá falando, por exemplo, de violência doméstica contra a mulher, as mulheres identificam a situação de violência que elas sofrem. De dizerem: “ah, então isso é violência? Eu passo por isso”. Da mesma forma aconteceu comigo quando eu comecei a compreender que aquilo que eu sofria com o cabelo, cor da pele, a dificuldade de conseguir bolsa pra permanecer na universidade era racismo. Aí sim eu começo a me integrar, a gente começa a discutir, vai pra escola… Estamos falando do início dos anos 2000. A gente começou esse movimento lá no Cariri com a Valéria, a Verônica, o Cícero Erivaldo, Risoneide… Eu já tinha passado por um processo de formação com a Mara, uma grande liderança feminista do Cariri, e o entendimento e a construção do Grunec se dá em 2001, 2002. Foi um processo revolucionário no Cariri. A partir daí, a gente conseguiu salvar a vida de muitas pessoas. Eu digo que o movimento salvou a minha vida. Se não fosse o movimento, talvez eu não tivesse hoje contando essa história. Ou tivesse feito qualquer outra coisa da minha vida. Ou fosse uma pessoa completamente frustrada.
DEFENSORIA: Por que, Antônia? O que aconteceu?
ANTÔNIA: Quando eu digo que o movimento salvou a minha vida, é justamente pela compreensão de que se não fosse o entendimento de quem sou eu, Antônia, no mundo, de por que essas coisas aconteciam no mundo, talvez minha história não tivesse feito tanto sentido, sabe? Talvez eu não tivesse me engajado em tantas coisas. Talvez eu não tivesse tido força pra seguir. Ou tivesse seguido uma vida sem compreender o que era isso, o que eu estava passando, por que tanto sofrimento…
Naquele momento, a gente discutia muito a história da afirmação, do quem sou eu e de onde é que a gente vem? De entender que o nosso povo, e falo do povo negro, que foi tratado como preguiçoso, como bandido, como feio, quando a realidade não é essa. A história não é essa.
Onde eu nasci, o nosso destino era estudar, terminar o ensino médio e pronto. E a gente ia trabalhar no que desse. Se desse. Era o que o povo dizia. Muitas da minha geração foram trabalhar em “casas de família”, como se a gente não tivesse uma. E isso era como se fosse um destino manifestado. Como se fosse uma coisa inerente à nossa condição. De que a gente só podia ir até ali. Quando eu percebi que essas amarras, e eu chamo de amarras mesmo, aquilo que nos impedia de seguir adiante, tinha sido uma história que tinha sido escrito sobre nós e de forma errada e de propósito, pra nos manter numa situação de opressão, foi que eu disse: “não, tá errado! Não é esse o meu destino. Não é por aqui que eu vou. Eu vou por aqui e, por onde eu for, eu vou levar os meus comigo. Em qualquer porta que eu bata, eu nunca vou bater nessa porta só.”
Eu, Antônia, vou levar comigo os meus alunos, eu vou levar os meus parentes, eu vou levar os meus vizinhos, eu vou levar as minhas vizinhas. Porque não pode ser só a Antônia. A gente discute muito sobre o povo negro nos espaços de poder. Não dá pra ser um poder pra um(a). Tem que ser um poder pra todo mundo. Todo mundo tem que ter o direito de entrar na universidade. Minha história foi interrompida várias vezes na universidade. Quando eu era pequena, eu dizia: “eu quero compreender isso; eu quero chegar na universidade.”
Eu estudava numa escola e lá no Crato a gente andava muito a pé. A gente descia da zona rural pro Crato, o carro deixava a gente na Prefeitura e a gente seguia a pé. E eu passava ao lado da universidade, na calçada. E ficava imaginando: “meu Deus, será que um dia eu vou entrar aqui? Como é que é isso?”. Eu ficava sonhando. E quando eu voltava e dizia isso pros meus, eles riam da gente. Diziam: “nunca! Isso daí não é pra vocês. Vocês vão só terminar o ensino médio”. Era essa a ideia que as pessoas tinham da gente. E eu dizia: “não! Eu vou pra universidade”. E fui. E terminei. E, depois, fiz Geografia e Meio Ambiente.
Fui estudar as mulheres que coletam pequi na Floresta do Araripe, porque eu queria saber se naquele trabalho atravessava alguma questão de gênero muito forte. Descobri que sim. Descobri que afetava a vida das mulheres lá. Descobri várias coisas. E o mundo foi se abrindo. Mas isso só foi possível porque eu cheguei na militância. Se eu não tivesse chegado na militância, nada disso eu tinha conseguido. Porque eu não tinha força. De onde era que eu ia tirar força? De onde é que eu ia saber que eu podia?
Muitos dos meus amigos que estudaram comigo, quantos de nós chegamos? Que eu conto, três chegaram na universidade. Um que, inclusive, chegou a ser pro-reitor na Urca e outro, que terminou a universidade junto comigo. Três pessoas. Poderia ter sido mais. Mas é sobre isso a militância. Chegar nos espaços e chegar de forma coletiva.
 DEFENSORIA: Você já citou nomes de algumas mulheres que foram importantes pra você. Queria te convidar a pensar em quais outras mulheres marcaram a tua trajetória, já que você diz que quando vai não vai sozinha…
DEFENSORIA: Você já citou nomes de algumas mulheres que foram importantes pra você. Queria te convidar a pensar em quais outras mulheres marcaram a tua trajetória, já que você diz que quando vai não vai sozinha…
ANTÔNIA: Inúmeras mulheres. Eu começaria falando da minha avó, uma pessoa que, em memória, esteve sempre comigo. Eu não tive vivência com a minha avó, mas eu sabia que ela era uma figura que me inspirava. Me inspirava porque era uma mulher valente. Ela era benzedeira e o povo tinha muita fé nela. Quando acontecia alguma coisa, um período de seca ou coisa assim, diziam: “vamo chamar a dona Maria das Dores pra rezar na roça pra ver se chove”. Essa força, a minha mãe carrega e eu termino me inspirando muito nelas.
Mas outras mulheres foram aparecendo na minha vida: duas grandes professoras que eu tive, Lireda e Roberta Piancó; a professora Lourdes Góes, que é presidente da Casa Lilás, que trabalha com mulheres e com o enfrentamento à violência contra a mulher, onde eu estive; a Cristiane Faustino; a Eneusa; Alessandra Félix, que é uma jovem mãe do socioeducativo; a Zuleide Queiroz; a professora Anna Érika, do IFCE; a professora Zelma Madeira…são inúmeras!
Eu vou aprendendo com cada uma dessas mulheres. Porque é no coletivo que a gente vai se fazendo. A gente vai se construindo a partir do momento em que a gente vai vendo que a outra consegue, anda, puxa a gente, dá força, diz que é de tal forma, que caminho tal tá errado etc. É isso que eu chamo de coletivo.
DEFENSORIA: A gente tá fazendo questão de te pedir pra fazer esse exercício de citar mulheres negras por ser uma reivindicação do próprio movimento feminista negro, do qual você faz parte, de denunciar o quanto mulheres negras são invisibilizadas na história porque as vitórias são sempre atribuídas a homens brancos. Diante disso, gostaria de saber se quando você entrou na tão sonhada universidade você encontrou outras mulheres negras como você. Com qual cenário aquela Antônia menina se deparou ao ingressar no ensino superior?
ANTÔNIA: Primeiro, eu preciso dizer que, quando eu prestei vestibular, o povo dizia que eu não ia conseguir entrar. E eu fiquei aperreada, porque eu tinha que mostrar pro povo que eu ia conseguir. Não desisti e tentei. Eu passei em quarto lugar num vestibular que, naquela época, era concorrido e a relação dos aprovados era lida na Educadora, que era a rádio do Crato. Todo mundo ficava tenso esperando porque ninguém sabia quem ia passar. Eu ouvi meu nome, não acreditei e desci pro Crato pra ver meu nome na relação. Verifiquei o número de inscrição, olhei pro meu nome de novo e me dei conta de que tinha passado. Fiquei encantada.
Vou pro ambiente universitário e os primeiros meses foram terríveis. Terríveis. Porque primeiro eu cheguei lá e não tinha gente como eu não. E eu tava num curso de Geografia, uma licenciatura, e não tinha muitos de mim, não tinha muitas pessoas com quem trocar experiências. Cheguei lá e era meio estranha. Fui ficando e encontrei professores maravilhosos! A professora Lireda, professora Roberta, professor Ivan, muita gente que foi dando força pra gente e dizendo que a gente não podia desistir e que se a gente tivesse alguma dificuldade a gente falasse com eles. A gente se conectava mais com eles e com a professora Maria Soares porque, além de fazerem o trabalho de professores, eles ficavam de olho pra garantir que a gente permanecesse na universidade, que a gente conseguisse sair de lá com conhecimento. Eu tive muita ajuda nesse sentido.
A primeira vez que eu concorri a uma bolsa, não consegui. Olha a dificuldade: eu tinha que pagar uma taxa de alguma coisa. Não lembro o que era. Só sei que era uma coisa de alguns reais e centavos. E eu não tinha esse dinheiro. Aí, teve um professor, um geólogo, muito respeitado, que é o professor Jackson Antero, disse: “Antônia, não se preocupe. Eu vou lhe emprestar”. Eu aceitei, mas não entrei. Na entrevista, eu fiquei atrás de um colega que, hoje, é o reitor da Urca. Aí, o colega, esse que hoje é o reitor da Urca, disse assim: “foi a Antônia que ficou em segundo? Pois eu vou desistir da bolsa”. Ninguém entendeu, né? O pessoal ficava: “como assim o Júnior desistiu da bolsa?”. Não sei nem se ele lembra dessa história. Mas ele desistiu. Disse que ia fazer outra coisa. E eu fiquei com a bolsa pra terminar o semestre.
Qual era a questão naquele período que me angustiava muito e por pouco eu não larguei a universidade: era o deslocamento. Porque não era de graça vir pra cidade. Então, com aquela bolsa, eu paguei o meu deslocamento e o deslocamento dos meus irmãos. Nem eu saí, nem eles saíram. A gente terminou e foi um momento de tanta felicidade! Eu me senti rica, porque era uma bolsa pra três pessoas! (risos) Era pra três alunos, mas eu pensava: “poxa, eu tô rica”. Consegui com o meu suor, com o meu esforço. Tudo bem que eu saía de casa cinco horas da manhã. Mas tava de boa. Tava muito bom pra mim ali.
Então, eu tive o desafio de encontrar os meus ali. Quando veio a política de cotas, quando ia ser implementada pelo governo Lula e eu estava no final do curso, eu disse: “tem que ter”. Eu nunca tive dúvida da política de cotas. Nunca tive um segundo de dúvidas de que a cota era a saída pra gente. É porque a gente não consegue? É não. É porque no dia a dia a gente precisa pensar em ir pra universidade, mas precisa pensar no que vai comer amanhã. Outras pessoas não têm essa dificuldade não, mas nós temos. Ou a gente estuda ou a gente come. Essa é uma decisão muito difícil de a gente tomar, mas é lógico que a gente vai optar por se sustentar. É necessário que o nosso povo esteja na universidade.
 DEFENSORIA: Como você avalia a atual conjuntura sociopolítica de luta do feminino por espaços e garantia de direitos?
DEFENSORIA: Como você avalia a atual conjuntura sociopolítica de luta do feminino por espaços e garantia de direitos?
ANTÔNIA: Olhe, eu já vivi pra ver muita coisa boa e muita coisa ruim nesse país. Mas eu nunca vi uma época tão ruim. E eu sou de uma época em que a mortalidade infantil, por exemplo, era altíssima. E parece que a gente tá voltando a esse momento. E eu não me referindo só à mortalidade infantil, mas à falta de perspectiva da população mais jovem. A dificuldade econômica que a gente está vivendo. Mas, para além disso, esse governo [do presidente Jair Bolsonaro, em setembro de 2022] tem uma misoginia muito forte. Tanto é que a primeira coisa que esse governo fez foi atacar frontalmente a política pras mulheres.
Aí, você pode dizer que foi criado o Ministério das Mulheres. Criou. Mas vamos ver quanto de recurso ele investiu na Casa da Mulher Brasileira, por exemplo? Não tem. Cadê o crédito rural pras mulheres trabalhadoras rurais pra manterem seus empreendimentos? Não tem. Cadê os incentivos pras mulheres trabalhadoras urbanas pra garantir que elas consigam trabalhar, ampliação de creche, construção…? Não tem. É um governo que é contra as mulheres. Não dá pra gente achar natural.
A gente tem um superendividamento das mulheres hoje e as mulheres que estão endividadas são mulheres negras. São dados que estão aí e qualquer pessoa pode acessar e ver, embora esse governo vá maquiando, mas a gente consegue ver porque aqui e acolá um instituto de pesquisa mostra. Por exemplo: os objetivos de desenvolvimento do milênio, a meta cinco está toda, toda complicada. Arrisca a gente não cumprir a meta. E é importante cumprir porque é uma meta que diz respeito à emancipação das mulheres. Se você tem mulheres vivendo bem, com mais equilíbrio e justiça social, você tem um país mais desenvolvido. Mas hoje todas as metas que você vai olhar estão em atraso e com dificuldade de serem cumpridas. Então, esse governo precisa, de fato, acabar. Não tem outro jeito pra ele.
DEFENSORIA: Consciente de que onde você chega você não chega sozinha, como é olhar pra trás hoje e se dar conta de que muitas mulheres negras como você ficaram pelo caminho porque não tiveram a mesma oportunidade?
ANTÔNIA: É angustiante. Não tem outro nome pra dar. A gente vive um momento de muita ansiedade pra que as coisas melhorem. Quando a gente olha e percebe que várias de nós não conseguiram estudar, e a gente tá falando de um direito básico… Porque nosso direito básico não é trabalhar não, como dizem por aí. Nosso direito fundamental é moradia, saúde, educação… A gente não conseguiu fazer com que mulheres negras chegassem à universidade, por exemplo.
Então, quando a gente olha pra esse cenário aqui, da Uece, qual é a grande angústia? A gente precisa garantir que os jovens estejam nessa universidade. Que os jovens cheguem, mulheres negras, mulheres jovens negras cheguem na universidade. E eu falo isso olhando pra minha filha, mas olhando pra várias outras meninas que estão ainda no ensino fundamental, no ensino médio e precisam ter oportunidade. Oportunidade de conhecer o mundo e poder dizer o que quer ser. Eu não posso simplesmente viver pra me casar e ter filhos. Isso não é expectativa de vida pra ninguém. Isso é um projeto que alguém criou. Então, a gente não pode simplesmente reproduzir uma lógica, porque estão dizendo que é nosso destino manifesto, e não é.
Quando eu falo que é angustiante, é porque precisamos criar alternativas pra que as meninas cheguem, e elas cheguem com o pé na porta, dizendo: “não é isso o que eu quero! Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero fazer qualquer outra coisa, mas não é o casamento e ter filho que eu quero pra minha vida”. Podendo decidir. Minimamente decidir. Recentemente, eu visitei um projeto num determinado estado e o foco era o casamento infantil. Foi angustiante estar fazendo a avaliação de um projeto e não poder tirar as meninas daquela situação. Porque eram meninas, e quando saíssem do projeto fariam o quê da vida?
DEFENSORIA: O que foi que o movimento social te ensinou? Seja o movimento negro, o movimento das mulheres…o que de cada um tu tiras uma lição? Ou é tudo a mesma perspectiva?
ANTÔNIA: Eu tiro várias lições. Mas a principal é que a saída é coletiva. Ou sai todo mundo ou não tem saída pra ninguém. Não é o sujeito, é o coletivo, é todo mundo, são as periferias, são as comunidades rurais, são os indígenas, são os quilombolas… A saída é você garantir acesso, garantir direito pra todas essas populações, pra todos nós. Porque a gente só é completo a partir do momento que a gente espelha o outro e o outro nos espelha. Não existe um indivíduo só no mundo. Esse projeto de mundo foi construído aqui no meu juízo pelo movimento. Foi o movimento que me ensinou.
Eu aprendo muito com as mulheres negras, nós, mulheres negras, mas principalmente as mais velhas, que dizem: “uma sobe e puxa a outra”. Porque não dá pra uma subir só. Porque se uma subir só, uma hora desce e as outras não têm conseguido chegar. Então, tem que chegar todo mundo junto mesmo. E uma vai fortalecendo a outra. E quando uma tem uma dificuldade a outra vai lá e ajuda. Se não for assim, não tem saída. Não muda nada.
 DEFENSORIA: O que você acredita ter mudado pras mulheres terem hoje um alcance maior na voz dos movimentos?
DEFENSORIA: O que você acredita ter mudado pras mulheres terem hoje um alcance maior na voz dos movimentos?
ANTÔNIA: Existem dois movimentos aí, que eu vejo. E eu fiquei até preocupada. Existe um feminismo, que a gente se incorpora, que são as mulheres populares da vida real que precisam de creche, de escola de tempo integral, que precisam de moradia… Eu não posso acordar de manhã e meter meus pés na lama na hora de sair pra trabalhar. Eu não posso ter que sair às cinco da manhã de casa porque o ônibus demora a passar. Essas mulheres se organizam também. Muitas de nós estamos aqui organizadas num movimento que a gente chama de movimento mais popular.
E existe um movimento mais burguês, que vem da universidade, que são mulheres de classe média que conseguem ter voz, que pagam a muitas de nós pra cuidar dos filhos dela, que são brancas e que, muitas vezes, inviabiliza nossa voz, nossa pauta, nossa história… Dizem que é massa diminuir o número de assassinatos de mulheres. É ótimo mesmo. Mas aumentou entre as mulheres negras. Então, o que aconteceu aqui pra gente corrigir? Ah, as mulheres estão chegando mais nos espaços de poder. Mas quantas são negras?
No contexto político, tentam polarizar. E, de fato, existem lados opostos. Existe um lado que quer emancipação, quer vida, quer coletivizar mesmo, quer um mundo melhor. E o outro é corrupção, direito social zero etc etc. E, no meio dessa história toda, trazem o feminismo. Mas o feminismo não pode ser usado, de forma alguma, pra emancipar só uma parte das mulheres. Por mais que tenha nascido na universidade, se não vão falar da gente, a gente vai falar de feminismo negro. Porque existem mulheres que se organizam, que têm vida, que têm uma dinâmica própria e que tem uma necessidade específica. Quando a gente brigou, lá nos anos 1970, 80 e 90, quebrando o pau mesmo pra dizer que a gente existe, muita gente disse que a gente estava rachando o movimento. Mas não estamos não. Já era e nunca pautaram o racismo. Nunca disseram que a opressão se baseia em gênero, raça e classe. Olham até a classe, mas esquecem da raça. E aí a gente fica o tempo todo carregando o piano. O tempo todo a gente fica pra trás.
É importante a gente falar da emancipação das mulheres, mas tem que falar ainda de algumas coisas que são dolorosas, apesar de que nem tudo é só dor na nossa vida. Em 2015, as mulheres negras fizeram um movimento neste país que foi impressionante. Foi o único movimento que a presidenta Dilma recebeu. Depois vieram as mulheres indígenas, que também fizeram um grande movimento, mas aí já foi no governo do golpista e não dava pra contar muito com o Governo Federal. Desde lá, a gente vem fazendo a marcha das mulheres negras e a marcha das mulheres indígenas. Essas mulheres precisam aparecer também. Nós, mulheres, vamos disputar esse espaço. A gente contribui, carrega essa história toda nos ombros e o povo não consegue olhar pra gente. O que é isso? Tá muito errado e a gente questiona sem nenhum problema. Angela Davis diz que quando uma mulher negra se movimenta toda a sociedade se movimenta junto.
DEFENSORIA: Você foi a terceira ouvidora da história da Defensoria e a terceira ouvidora negra consecutiva da instituição, fazendo a ponte com os movimentos sociais. Como se deu essa chegada e como foi esse momento de ser ponte?
ANTÔNIA: Como tudo na minha vida é coletivo, essa ida também é coletiva. A gente tinha um grupo de algumas instituições que se reuniram e lançaram essa candidatura porque estava encontrando algumas dificuldades e precisavam ampliar. Nem era o meu nome que seria lançado, a priori. De última hora, a pessoa que seria indicada disse que não pode. Como sou de assumir as tarefas, eu fui. A princípio, a gente pensou em demarcar um espaço. Eu pensava que não ia nem pra sabatina do Conselho Superior. Mas acabei sendo eleita ouvidora. E encontrei um espaço muito embranquecido e muito complicado. O primeiro grande choque foi constatar que eu estava numa instituição na qual os meus estavam na porta, esperando atendimento. Então, a responsabilidade mais do que dobrou nos meus ombros. E, no meu juízo, eu tinha que resolver tudo. Se chegasse uma reclamação, eu tinha que ir atrás e resolver, fosse como fosse.
Eu vinha de um lugar, a criação da política de mulheres em Fortaleza, em que a gente tinha que fazer as coisas acontecerem. Não interessava o que era. Tinha que dar certo. E na Ouvidoria muitas coisas não dependiam de mim, porque já existiam há muito tempo lá. A dificuldade de acessar um núcleo no Interior? E a questão estava justamente no fato de as pessoas do Interior não saberem nem o que era a Defensoria.
Cheguei num quilombo onde as pessoas diziam: “do que você tá falando? A gente não sabe o que é isso”. E eu tive que sentar debaixo de uma mangueira, conversar com eles e explicar o que era. Eles tinham uma grande dificuldade de acessar a rede de energia elétrica e não conseguiam. Mas não sabiam como. Quando muito, conheciam o Ministério Público. A gente se deparou com essa dificuldade muitas vezes. Mas, para além disso, a gente não pode deixar de considerar a questão do racismo. Em espaços como esse, o racismo está presente. Com isso, eu não estou individualizando o racismo. O racismo não é uma questão individual. É estrutural.
Quando nós começamos a discutir o que queríamos, uma das questões era pautar o racismo dentro da Defensoria. Uma tarefa que eu tinha era fazer com que a Defensoria se olhasse, se visse e pensasse: “será que não temos práticas racistas aqui?”. E aí eu fui fazendo, fui dando conta dessas coisas e logo após veio a eleição pra defensor geral. E foi a doutora Elizabeth Chagas quem ganhou. Eu conhecia a doutora Elizabeth da época em que eu era coordenadora do centro de referência e ela estava no Nudem. Ela sempre foi muito presente nas atividades.
Na primeira reunião, estava lá a doutora Patrícia Sá Leitão e eu falei que achava importante a gente discutir uma formação sobre raça e pautar nos concursos, porque vocês são muito brancos e a Defensoria precisa ter mais pessoas pretas. De imediato, nós começamos a conversar e marcamos uma reunião só pra isso. Nos reunimos depois, eu apresentei um projeto e quando falei de cotas pro concurso e duas reuniões depois a Instrução Normativa já estava pronta, já estava com o projeto quase encaminhado e ela já queria indicações de nomes. Eu pensei: “valha, meu Deus! Ela é acelerada! Eu vou ter que correr pra dar conta.”
 DEFENSORIA: Essa foi a Instrução Normativa que saiu em novembro de 2020?
DEFENSORIA: Essa foi a Instrução Normativa que saiu em novembro de 2020?
ANTÔNIA: Isso, que pautou a questão de seleção e concurso ter a cota reservada pra pessoas negras. Aí, a gente começou a discutir e a fazer formações. E eram abertas as formações, tanto pra defensores quanto pra sociedade civil. A primeira formação foi pra defensores e eu percebi que um defensor ficou sem entender ou incomodado porque estávamos falando de racismo. Eu cheguei pra ele e disse: “não é com você. É sobre a estrutura. Olhe em volta”. Ele entendeu e, inclusive, foi um defensor que contribuiu muito com a Ouvidoria. A gente dialogava muito bem e ele foi entendendo a questão do racismo e percebendo que a gente precisa construir uma outra perspectiva de Defensoria.
Outra coisa marcante foi que nada que fosse ruim em qualquer aspecto pro assistido eu poderia deixar passar no Conselho Superior. Não podia. Porque a gente sabe de onde é que a gente vem e sabe pra onde a gente volta. Então, se passa algo danoso ou que afasta o assistido e a assistida da Defensoria, isso é muito ruim. Perde o movimento, perde a gente, perde todo mundo. A própria Defensoria perde quando tem um distanciamento da sociedade civil. Então, eu ficava de olho nas pautas. E ouvi de algumas pessoas: “você se mete muito”. E eu me meto nos espaços que não me cabem. É assim mesmo.
O fato é que passei esses dois anos como ouvidora. Fui pra eleição. Não vou falar da eleição, mas não acho que foi justo o que fizeram. E tenho mágoas de algumas pessoas da Defensoria. Não vou citar nomes, mas tenho mágoas. Inclusive de pessoas que depois me procuraram e disseram muitos absurdos e disseram coisas que não aconteceram. Mas enfim. Sigo na minha militância. Tenho refletido muito sobre um possível retorno pra sala de aula. Porque fiquei pensando: “como é que a gente vai salvar essa juventude toda?”. Eu não tenho mais idade, mas vou voltar pra sala de aula e é pro ensino fundamental. Porque é ali onde a gente precisa pegar esse povo e jogar pra dentro da universidade, pro ensino médio, das escolas profissionalizantes, pra onde for, que é pra poder dar um destino diferenciado. Porque os nossos filhos não podem ter como destino a prisão e o cemitério. Não podem.
DEFENSORIA: Qual mensagem você deixaria pra população negra feminina como forma de encorajamento na luta por direitos, principalmente para aquelas que não participam da agenda dos movimentos sociais?
ANTÔNIA: Uma coisa que a gente precisa dizer é: ninguém vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. A gente tem que se levantar e ir. E entender que outras de nós que estão num processo mais avançado têm que olhar pra trás e puxar as que estão começando. E construir, juntas, alternativas, saídas. As mulheres precisam olhar pro movimento e nós precisamos olhar pra elas, num olhar mais empático, e compreender que a gente dá conta de mudar essa realidade. Uma, sozinha, não vai não. Mas se for todo mundo a gente muda essa realidade. E a gente muda pra melhor. E a gente vai chegar lá na frente, vai ter orgulho da nossa história e vai dizer assim: “valeu a pena.”
 DEFENSORIA: Como se dava esse seu vínculo com os movimentos sociais enquanto você foi ouvidora? Você procurava os movimentos? Ou as demandas que chegavam eram orgânicas?
DEFENSORIA: Como se dava esse seu vínculo com os movimentos sociais enquanto você foi ouvidora? Você procurava os movimentos? Ou as demandas que chegavam eram orgânicas?
ANTÔNIA: A demanda chegava, dos assistidos e dos movimentos. Esses movimentos chegaram muito timidamente. E chegaram sem entender muito qual era meu papel, porque eu vinha de um outro grupo. A gente não é tudo paz e amor nos movimentos. A gente disputa espaços. E eu venho de um espaço mais ligado ao CPP, à Casa Lilás, a organizações que estão mais pra dentro do sertão, ao Grunec, MNU, um grupo que não tava no Conselho Estadual de Direitos Humanos. E as pessoas ficaram meio ressabiadas. Mas eu disse: “eu vou atrás de tudim. Não tem isso não comigo. Oxe, eu já tenho o não e vou buscar tudim”. E fui.
O Escritório Frei Tito foi lá, a gente se reuniu, discutiu a pauta e viu o que eles precisavam. Pastoral carcerária e outros foram chegando e a gente foi construindo um vínculo forte, de juntar as instituições pra dialogar com todo mundo, porque fazer isso só uma parte dos movimentos é algo que não funciona. Tinha muito essa troca. Eu mobilizava pra dentro do Orçamento Participativo e outras pautas.
Elas me diziam que, como representante delas, eu tinha que ir lá e brigar por elas. E eu não tinha outra alternativa. Eu era demandada pelos movimentos. Pra onde eu fosse, eu era demandada pelos movimentos. Meu papel era esse. Eu tinha que ter autonomia em relação a várias instituições, mas não em relação aos movimentos. Aos movimentos, eu era obrigada a seguir. A não ser que eles estivessem extremamente errados, o que dificilmente acontece, mas eu vou discordar com eles numa reunião com eles, e ver se consigo convencer ou ser convencida. Mas não fazer uma fala pública contrária. Não era meu papel, não me cabia naquele momento e eu não faria, nem faço nunca. Então, a gente teve um início mais difícil. Só que, no final, foi tudo tranquilo. Eu me senti muito acolhida pelos movimentos. No final do processo, tínhamos instituições como o Cedeca, o Terramar, CPP, Casa Lilás, o próprio MNU, o Grunec, o Terreiro das Pretas…são agrupamentos que estiveram comigo até o final.
Uma vez, eu disse ao Conselho Superior que aquele espaço não me definia. Nenhum espaço me define. Aqui, eu não sou só a Uece. Na Defensoria, eu não era só Ouvidoria. Eu sou Antônia. E eu sei quem são os meus. E eu devo lealdade aos meus. Isso é uma questão de raça e é uma questão de classe. Se tem uma coisa que eu aprendi foi isso. Eu vou votar contra você em algum momento? Só se for entre nós, no movimento negro. Aí, pode até ser. Vou discordar com todo o respeito. Mas estando na mesma condição que você, eu vou votar contra você? Não tem condição.
DEFENSORIA: Como você avalia o cenário de defesa dos direitos humanos com o mundo atravessando uma escalada de extrema direita e conservadorismo? A perspectiva é boa?
ANTÔNIA: Eu sou quase discípula do Milton Santos. Ele dizia que não era militante de nada. Ele era um intelectual e falava que enquanto estivesse de pé ele teria esperança. Aí, eu olho pro Marx, penso como existem os ciclos econômicos, com a esquerda organizando tudo e a direita vindo pra desmantelar tudo. Mas eu sinto outros ventos agora pra América Latina. Até mesmo quando a gente olha pro governo Bolsonaro.
Se o Bolsonaro não tivesse existido, nós nunca teríamos descoberto o quão perigoso é um governo na proporção do Bolsonaro. E isso não é bom não. Isso é ruim. Era pra gente ter aprendido com a história, porque a gente já viveu um momento como esse. Recentemente, inclusive. Há menos de 40 anos, a gente viveu um momento como esse. A gente quase chegou numa teocracia. Nessa brincadeira, a gente vai perdendo defensores de direitos humanos, a gente vai perdendo indigenistas, a gente vai perdendo mulheres negras…
O grande marco desse recrudescimento de direitos é a Marielle Franco e as tantas ameaças que as mulheres estão recebendo na política fruto dessa onda ultraconservadora que tem tentado se instalar no mundo. Mas veja só. Há um desmantelamento disso também, porque tudo tem o seu preço e eles deram um passo além das pernas deles. O que foi feito foi muito grave. O que morreu de gente na pandemia foi muito grave, aumentou a violência contra a mulher, aumentou o desemprego, aumentou a fome… A gente não merece nada de bom? A gente tem que criar uma outra forma de vida que não seja essa violência toda.

Na Defensoria, eu me deparei com uma realidade que tem muitos defensores que, se precisar agora, ele está aqui. Já precisei de defensor num domingo, 10 horas da manhã, numa ocupação, e pude contar. Temos vários defensores e defensoras aguerridas. Mas claro que há pessoas com dificuldade de reconhecer a nossa humanidade. E não estou partindo para o debate de que se é um bom ou um mau profissional. É simplesmente uma pessoa que, infelizmente, está no lugar errado. Porque é um espaço caro para a população. E não existe Defensoria de porta fechada.
É por isso que, mesmo na pandemia, eu fui atender. Deixei as meninas do apoio administrativo em casa e fui atender. Tinha gente lá e eu atendia. Nisso, peguei Covid três vezes. Mas eu tinha que fazer isso. Porque se eu não der esse exemplo quem ia dar? Iam dizer: “ó, a ouvidora passa o dia todo em casa”. Eu não estava em casa. Estava indo pra Defensoria. E atendi gente que não sabia usar o telefone pra fazer um atendimento on-line. Ela não sabia nem olhar os aplicativos. Precisei dizer: “quando tiver o sinalzinho vermelho aqui é porque tem mensagem pra senhora.”
Defensoria Pública do Estado do Ceará
Av. Pinto Bandeira, nº 1.111, Bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza – CE, CEP 60.811-170.
Telefone: (85) 3194-5000
Defensoria Pública Geral do Ceará 2025 | Política de Privacidade